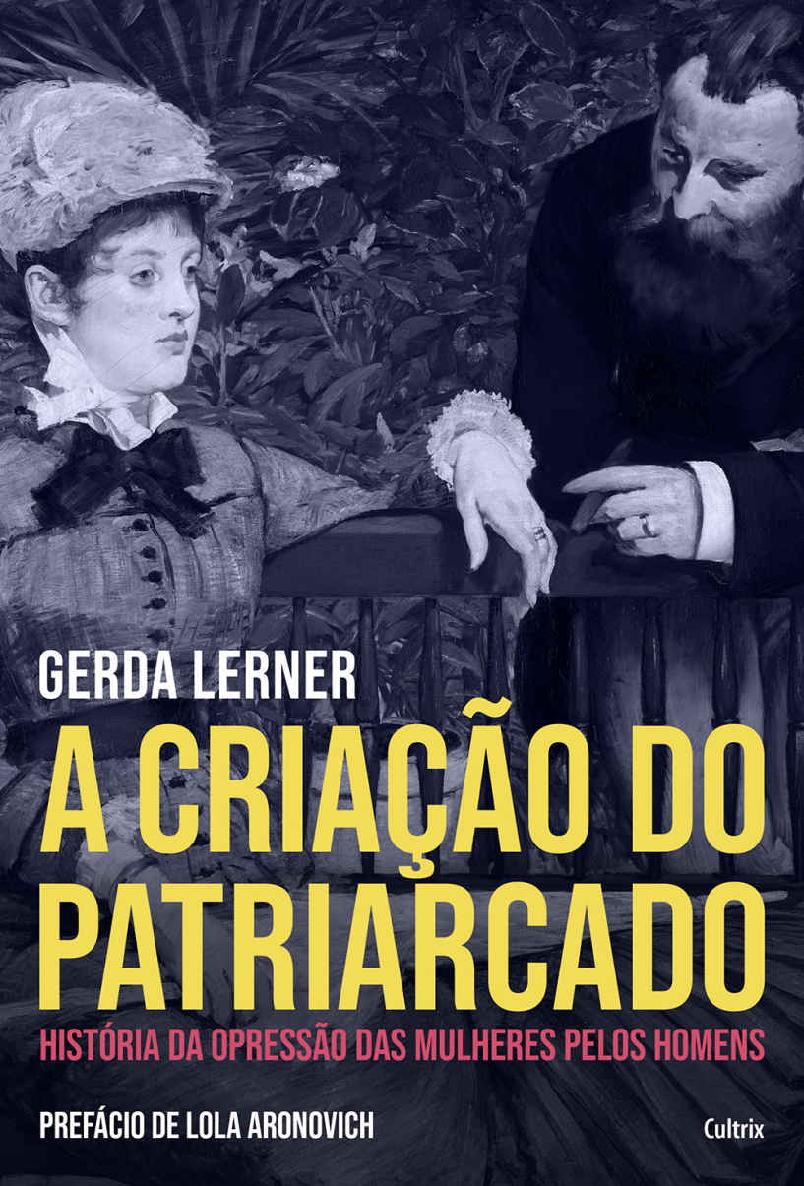
Título do original: The Creation of Patriarchy.
Copyright © 1986 por Gerda Lerner.
The Creation of Patriarchy foi publicado originalmente em inglês em 1986. Esta edição foi publicada mediante acordo com a Oxford University Press. A Editora Pensamento-Cultrix é responsável por esta tradução. A Oxford University Press não se responsabilizará por quaisquer erros, omissões ou inexatidões ou ambiguidades nesta tradução ou por quaisquer perdas causadas pela confiança na mesma.
Copyright da edição brasileira © 2019 Editora Pensamento-Cultrix Ltda.
1ª edição 2019
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou usada de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, inclusive fotocópias, gravações ou sistema de armazenamento em banco de dados, sem permissão por escrito, exceto nos casos de trechos curtos citados em resenhas críticas ou artigos de revistas.
A Editora Cultrix não se responsabiliza por eventuais mudanças ocorridas nos endereços convencionais ou eletrônicos citados neste livro.
Editor: Adilson Silva Ramachandra
Gerente editorial: Roseli de S. Ferraz
Preparação de originais: Alessandra Miranda de Sá
Produção editorial: Indiara Faria Kayo
Editoração eletrônica: Join Bureau
Revisão: Vivian Miwa Matsushita
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Lerner, Gerda, 1920-2013
A criação do patriarcado: história da opressão das mulheres pelos homens / Gerda Lerner; tradução Luiza Sellera. – São Paulo: Cultrix, 2019.
“Prefácio à edição brasileira por Lola Aronovich, do blog Escreva Lola escreva”
Título original: The creation of patriarchy.
Bibliografia.
ISBN 978-85-316-1534-4
1. Mulheres – História 2. Papel sexual – História 3. Patriarcado I. Título.
19-29103
CDD-305.42
Índices para catálogo sistemático:
1. Patriarcado e mulheres: Sociologia 305.42
Cibele Maria Dias – Bibliotecária – CRB-8/9427
eISBN: 9788531615344
Direitos de tradução para a língua portuguesa adquiridos com exclusividade pela EDITORA PENSAMENTO-CULTRIX LTDA., que se reserva a
propriedade literária desta tradução.
Rua Dr. Mário Vicente, 368 — 04270-000 — São Paulo, SP
Fone: (11) 2066-9000
http://www.editoracultrix.com.br
Foi feito o depósito legal.
Virginia Warner Brodine e Elizabeth Kamarck Minnich
cujas ideias desafiaram e corroboraram as minhas e cujo amor e amizade me fortaleceram e ampararam
SUMÁRIO
Nota sobre cronologia e metodologia
Três. A esposa substituta e o fantoche
Onze. A Criação do Patriarcado
E
. Começou em
1977, com algumas perguntas que haviam ocupado minha cabeça, de tempos em tempos, por mais de quinze anos. Elas me levaram à hipótese de que é a relação das mulheres com a história que explica a natureza da subordinação feminina, as causas para a colaboração das mulheres no processo da própria subordinação, as condições para que se opusessem a ela, a ascensão da consciência feminista.
Na época, eu tinha em mente a formulação de uma “teoria geral”
sobre as mulheres na história, e foram necessários quase cinco anos de trabalho para me mostrar que esse objetivo era prematuro.
As fontes sobre a cultura do Antigo Oriente Próximo eram tão ricas e rendiam tantas ideias, que notei ser necessário escrever um volume inteiro para explorar esse material. Assim, o projeto se expandiu em dois volumes. [ 1 ]
Apresentei o resumo teórico do meu projeto em um workshop no Congresso “The Second Sex – Thirty Years Later: A
Commemorative Conference on Feminist Theory” [O Segundo Sexo
– Trinta Anos Depois: Congresso Comemorativo sobre Teoria Feminista], que ocorreu na Universidade de Nova York de 27 a 29
de setembro de 1979. Nesse workshop, fui auxiliada pelos comentários animadores feitos pela escritora Elizabeth Janeway e pela filósofa Elizabeth Minnich. Uma versão revista desse ensaio foi apresentada no encontro da Organização dos Historiadores Norte-Americanos de 1980, ocorrido em São Francisco, de 9 a 12 de abril daquele ano. A sessão foi presidida por Mary Benson. As críticas
construtivas de Sara Evans e George M. Frederickson favoreceram meu entendimento.
Nos estágios iniciais da minha pesquisa, fui muito auxiliada por um incentivo da Fundação Guggenheim em 1980-1981, que me permitiu um ano para me aprofundar em Antropologia e na teoria feminista, além de estudar o problema da origem da escravidão. Um dos resultados daquele ano de trabalho foi o capítulo “A Mulher Escrava”, que apresentei no Congresso de Berkshire de Mulheres Historiadoras, realizado na Universidade de Vassar em junho de 1981. Aproveitei muito a crítica criteriosa de Elise Boulding e Linda Kerber, e os comentários de Robin Morgan, que avaliou o material do ponto de vista de uma teórica feminista. Meu ensaio, em formato revisto, foi publicado como “Women and Slavery” [Mulheres e Escravidão] em Slavery and Abolition: A Journal of Comparative Studies, v. 4, nº 3 (dezembro de 1983), pp. 173-98.
Um capítulo deste livro foi publicado como “A Origem da Prostituição na Antiga Mesopotâmia” no SIGNS: Journal of Women in Culture, v. XI, nº 2 (inverno de 1985).
A Escola de Pós-Graduação da Universidade de Wisconsin-Madison apoiou minha pesquisa para este livro com uma bolsa de pesquisa no verão de 1981, com incentivos para assistentes de projeto. Ter sido nomeada Notável Professora Sênior da Fundação de Pesquisa de Ex-alunos de Wisconsin em 1984 me concedeu um semestre sem obrigações como professora, o que me permitiu fazer as revisões finais e concluir o livro. Sou muito grata não apenas pelo apoio tangível, mas pelo implícito encorajamento ao meu trabalho. O
departamento de Estudos das Mulheres da Universidade de Wisconsin-Madison me ofereceu duas oportunidades de
compartilhar o trabalho em andamento com os corpos docente e
discente, cujas críticas aguçadas e intensas foram de considerável ajuda para mim. Também sou muito grata pela hospitalidade com que fui recebida como pesquisadora visitante pelo departamento de História da Universidade da Califórnia em Berkeley durante um semestre em 1985.
Trabalhar neste livro me trouxe desafios incomuns. Sair da própria disciplina e área de instrução é, por si só, uma tarefa difícil. Realizar essa tarefa fazendo extensas perguntas e tentando permanecer crítica às respostas oferecidas, de acordo com as principais estruturas de conceitos do pensamento da civilização ocidental, é, no mínimo, intimidador. Eu representava, em mim mesma, todos os obstáculos internalizados que atrapalharam em grande escala o caminho do pensamento das mulheres, como os homens haviam feito. Não poderia ter persistido sem o encorajamento da comunidade de pensadoras feministas em geral e o encorajamento pessoal oferecido por amigas e colegas dentro dessa comunidade.
Virginia Brodine, Elizabeth Minnich, Eve Merriam, Alice Kessler-Harris, Amy Swerdlow, a saudosa Joan Kelly, Linda Gordon, Florencia Mallon, Steve Stern e Stephen Feierman me ofereceram amizade e apoio, sendo ouvintes e críticos infinitamente pacientes.
Além de terem ajudado durante o processo, Brodine, Minnich, Gordon e Kessler-Harris também leram o último rascunho do manuscrito. A reação favorável e as críticas detalhadas delas me impulsionaram a fazer a última revisão, que mudou o livro de maneira drástica. Elas corroboraram e estimularam meu pensamento e me ajudaram a permanecer em rota de processo até encontrar a forma que expressasse o que eu queria dizer. Isso é o auge da crítica construtiva, e sou grata por isso. Espero que elas gostem do resultado.
Outros colegas da Universidade de Wisconsin-Madison, cuja crítica de um ou vários capítulos enriqueceu meu entendimento, são: Judy Leavitt (História da Medicina), Jane Shoulenburg (História das Mulheres), Susan Friedman e Nellie McKay (Literatura), Virginia Sapiro (Ciência Política), Anne Stoller (Antropologia) e Michael Clover (História e Clássicos). Colegas de outras instituições – Ann Lane (História das Mulheres, Universidade de Colgate), Rayna Rapp (Antropologia, The New School, antiga The New School for Social Research), Joyce Riegelhaupt (Antropologia, Faculdade Sarah Lawrence), Jonathan Goldstein (Clássicos, Universidade de Iowa) e Evelyn Keller (Matemática e Ciências Humanas, Universidade Northeastern) – fizeram críticas do ponto de vista de suas respectivas disciplinas e ajudaram com sugestões bibliográficas.
Devo agradecimentos muito especiais aos especialistas em assiriologia, que, apesar de eu ser estranha a esse campo, aconselharam-me, criticaram e deram muitas orientações úteis.
Agradeço a eles pela generosidade, pelo interesse e pela colegialidade. A ajuda que me deram não significa necessariamente que apoiam minhas conclusões; embora eu tenha me guiado pelas sugestões deles, quaisquer erros de fato ou interpretação são de minha responsabilidade. Quero agradecer a Jack Sasson (Religião, Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill), Jerrold Cooper (Estudos do Oriente Próximo, Universidade Johns Hopkins), Carole Justus (Linguística, Universidade do Texas em Austin), Denise Schmandt-Besserat (Estudos do Oriente Médio, Universidade do Texas em Austin) e, especialmente, a Anne Draffkorn Kilmer (Estudos do Oriente Próximo, Universidade da Califórnia em Berkeley) pela leitura de todo o manuscrito, pelas críticas e muitas sugestões para referências e fontes que me ofereceram. Além
disso, Denise Schmandt-Besserat compartilhou uma bibliografia de sua especialidade, sugeriu outros contatos entre os especialistas em assiriologia e levantou diversas perguntas cruciais que me fizeram repensar algumas das minhas conclusões. Ann Kilmer fez de tudo para me orientar na área dela, me ajudar com passagens difíceis e traduções, me direcionar para referências em publicações especializadas recentes, além de abrir para mim os recursos da biblioteca de seu departamento. Não tenho palavras para expressar minha gratidão por sua generosidade e bondade. Os assiriólogos Rivkah Harris e Michael Fox (Estudos Hebraicos, Universidade de Wisconsin-Madison), que leram vários capítulos, discordaram da minha tese e de algumas das minhas conclusões, mas me ajudaram de maneira generosa com críticas e referências.
Do início à conclusão desta obra, Sheldon Meyer, da Oxford University Press, me apoiou, encorajou e confiou em mim. Ele leu as diversas versões do manuscrito e suportou com paciência os muitos atrasos e desvios necessários para que ele chegasse a seu formato final. Sobretudo, trouxe uma sensibilidade empática a suas leituras e sempre me encorajou a expressar meu pensamento sem levar em conta quaisquer considerações externas. Agradeço muito a ele o entendimento estimulante.
As excelentes habilidades de Leona Capeless tornaram o trabalho técnico de revisão um prazer para mim e ajudaram muito o livro.
Meu mais sincero agradecimento a ela.
Minhas assistentes de projeto, Nancy Isenberg e Nancy MacLean, merecem minha gratidão pelas muitas formas como facilitaram a pesquisa e o trabalho técnico para mim. Talvez elas sejam recompensadas por todos os anos de esforço em aprender mais sobre o Antigo Oriente Próximo do que jamais imaginaram que
precisariam saber. Também sou grata pelo trabalho que Leslie Schwalm fez em reproduzir as fotos e pelo cuidado de minha assistente de projeto Renee DeSantis em me auxiliar na revisão.
Anita Olsen digitou o manuscrito e a bibliografia com cuidado meticuloso e merece minha gratidão e estima pela destreza e paciência.
Pelo conhecimento, atenção e ajuda, estou em dívida com os bibliotecários e funcionários das bibliotecas da Sociedade Histórica de Wisconsin e da Universidade de Wisconsin, ambas em Madison, Wisconsin; da Biblioteca da Universidade da Califórnia em Berkeley e da Biblioteca Britânica em Londres, na Inglaterra. Meus agradecimentos também aos arquivistas da Biblioteca Schlesinger do Instituto Radcliffe de Pesquisa Avançada (antigo Radcliffe College), Cambridge, Massachusetts, e da Biblioteca das Mulheres (antiga Fawcett Library), em Londres, Inglaterra.
Às acadêmicas feministas que se debateram com perguntas semelhantes às minhas e encontraram outras respostas; aos alunos e plateias que me ajudaram a testar minhas ideias ao longo desses anos e às mulheres anônimas e sem voz que por milênios perguntaram sobre origem e justiça – meu agradecimento. Esta obra não poderia ter sido escrita sem vocês – nem poderá viver se não falar por e para vocês.
Gerda Lerner,
Madison, Wisconsin
Outubro de 1985
A
de termos para
descrever a experiência feminina, o status das mulheres na sociedade e os vários níveis de consciência das mulheres representam um problema para todas as pensadoras feministas.
Leitores com interesse específico em discussões de teoria feminista podem, portanto, preferir consultar o Apêndice após a leitura da Introdução e ler o capítulo “Definições” antes de prosseguir. O leitor com interesse mais geral talvez prefira procurar certos termos e suas definições conforme aparecerem no texto. A seção
“Definições” é uma tentativa de redefinir e descrever de maneira exata o que é exclusivo às mulheres e o que diferencia suas experiências e consciência das experiências e consciência de outros grupos subordinados. É, portanto, uma discussão de terminologia tanto linguística quanto teórica.
METODOLOGIA
C
A
M
, quanto a
nomes de diversos soberanos e autoridades, foram registrados por escribas, há um problema de cronologia ao lidarmos com esses registros. Cruzando referências de datas relativas aos soberanos com acontecimentos astronômicos significativos, que escribas antigos registraram, os acadêmicos chegaram a uma cronologia absoluta em anos-calendários para o primeiro milênio a.C. Ao tratarmos de eventos do segundo e do terceiro milênios a.C., podemos trabalhar apenas com uma sequência relativa. Para o segundo milênio a.C., acadêmicos elaboraram três cronologias (longa, média e curta), comparando datas registradas relativas a reis com dados astronômicos e de artefatos datados por radiocarbono.
Em decorrência disso, todas as datas do período são aproximadas.
Usei, por via de regra, datação de cronologia média. Ocorreram algumas discrepâncias no texto quando mencionei especialistas que usaram um método de datação diferente, e minhas citações desses textos refletem as datações deles. Tais discrepâncias ficam bem evidentes em datas de fotos, em relação às quais observei sempre as datas relacionadas pelos respectivos museus, mesmo quando em discordância com as datas do texto. [ 2 ]
Segui o mesmo critério em relação à ortografia de nomes mesopotâmicos: salvo indicação em contrário, utilizei a ortografia
mais recente, mantive, porém, a ortografia do autor em citações, mesmo diferindo da ortografia usada por mim.
Ao citar passagens traduzidas de textos cuneiformes, segui a prática de usar colchetes para interferências no texto e parênteses para inserções do tradutor. Por outro lado, no texto escrito por mim, colchetes indicam comentários do autor ou inserções.
Outro problema metodológico comum a todos os que trabalham com fontes mesopotâmicas antigas é que elas, embora abundantes para determinados períodos e locais, são irregulares quanto a tempo e lugar. Em razão da imprevisibilidade de descobertas arqueológicas, temos uma grande quantidade de informações sobre determinados lugares e períodos e pouca sobre outros. Isso nos oferece uma imagem do passado que tende a ser distorcida. Como existem bem menos fontes referentes a mulheres do que a homens, o problema é ainda maior para quem trata de História das Mulheres.
É bom ter essas limitações em mente ao avaliar as generalizações propostas.
I
são
consideradas tão menores, tão inferiores, tão confinadas ao espaço doméstico, tão irrelevantes, que não mereçam ser estudadas. Um mundo em que as mulheres não são dignas de ter sua história contada. Assustador, não é? Pois vivíamos exatamente nesse mundo até poucas décadas atrás. E, se essa condição tem mudado, é graças à luta feminina.
Gerda Lerner foi uma das mulheres importantes a mudar essa realidade, e por isso é tão impressionante que sua obra mais valiosa, A Criação do Patriarcado, publicada em inglês em 1986, só tenha sido traduzida para o português agora, 33 anos depois. É um livro que continua atual e cuja leitura é obrigatória para se compreender a história – a história de dominação masculina e de exclusão das mulheres.
Lerner morreu aos 92 anos, em 2013. Nascida em Viena, na Áustria, passou seu aniversário de 18 anos em uma prisão nazista.
Compartilhou a cela com duas ativistas políticas cristãs que lhe ensinaram como resistir. “Tudo de que precisei para sobreviver o resto de minha vida eu aprendi na prisão durante essas seis semanas”, ela relatou anos depois em suas memórias.
Após uma mudança estratégica para os Estados Unidos e dois maridos socialistas, Lerner só voltou a estudar no final da década de 1950, depois que seu filho mais novo fez 16 anos. Residindo em Nova York, concluiu seu bacharelado na New School for Social Research, em 1963. Quando ela enfim começou sua carreira
acadêmica, encontrou um universo em que a história das mulheres mal existia. Ela declarou em uma entrevista de 1993: “Nas minhas disciplinas, os professores me falavam de um mundo em que ostensivamente a metade da raça humana faz tudo o que é importante e a outra metade não existe”. Ela percebeu que essa insignificância das mulheres não se refletia em sua vida, tampouco na das mulheres à sua volta.
Sua tese de doutorado foi sobre as irmãs Grimke, as primeiras mulheres abolicionistas dos Estados Unidos, que lutaram pelos direitos das mulheres, pelo sufrágio universal e contra a escravidão.
As irmãs Grimke acreditavam que as mulheres não poderiam ser livres se os negros não fossem livres (para Angela Davis, elas foram pioneiras em associar a escravidão à opressão das mulheres).
Em 1963, quando ainda era aluna de graduação, Lerner ofereceu o que se considera hoje o primeiro curso regular de História das Mulheres ministrado em uma Universidade. Nos anos 1970, em Nova York, Lerner criou um curso inédito de pós-graduação em História das Mulheres nos Estados Unidos, na famosa universidade Sarah Lawrence. Mais tarde, ela publicou um vasto material sobre o que chamou de “mulheres negras na América branca”.
Lerner é tão relevante que, desde 1992, o prêmio Lerner-Scott (em sua homenagem e também a Anne Firor Scott, outra pioneira em História das Mulheres) é concedido anualmente à melhor tese de doutorado sobre História das Mulheres nos Estados Unidos.
Vários outros livros de Lerner, como The Creation of Feminist Consciousness [A Criação da Consciência Feminista], publicado pela Oxford University Press em 1993, também são referência. Não é à toa que ela é vista como a mulher que legitimou a História das Mulheres. Mas por que Lerner decidiu escrever sobre o patriarcado?
Não sei se há uma resposta. Sei que certa vez um hater (aqueles que só entram em discussões na internet para desestabilizar o discurso e propagar o ódio) disse em comentário ao blog que mantenho desde 2008, e que é um dos maiores blogs feministas do Brasil, que nós, mulheres, deveríamos agradecer por tudo o que os homens fizeram e fazem pela gente, pois foram eles, os homens brancos e heterossexuais, quem criaram a civilização. Sem homens geniais como o hater, não teríamos sequer um computador para fazer nossos blogs (ao que parece, ele nunca tinha ouvido falar de Ada Lovelace ou Hedy Lamarr; como isso foi antes do grande sucesso do filme Estrelas Além do Tempo, vamos dar um desconto).
Por fim, o hater concluiu que eu e outras feministas éramos ingratas com o patriarcado. Adorei a definição. Se eu tivesse uma banda de rock riot grrrl, já teria um nome para ela.
O patriarcado mantém e sustenta a dominação masculina, baseando-se em instituições como a família, as religiões, a escola e as leis. São ideologias que nos ensinam que as mulheres são naturalmente inferiores. Foi, por exemplo, por meio do patriarcado que se estabeleceu que o trabalho doméstico deve ser exercido por mulheres e que não deve ser remunerado, sequer reconhecido como trabalho. Trata-se de algo visto de modo tão natural e instintivo, que muitas e muitos de nós sequer nos damos conta.
Portanto, ler e falar sobre o patriarcado é desnaturalizar nossa existência. É reparar que existe um sistema estrutural que ainda mantém a hierarquia da sociedade. Então por que Gerda Lerner escreveu sobre esse tema? A resposta é muito simples: ela entendeu que traçar as origens do patriarcado equivaleria a desvendar os fatos históricos que levaram as mulheres a esse quadro de submissão e opressão que perdura por milênios.
Neste livro, Lerner nos ensina que o sistema patriarcal só funciona com a cooperação das mulheres, adquirida por intermédio da doutrinação, privação da educação, da negação das mulheres sobre sua história, da divisão das mulheres entre respeitáveis e não respeitáveis, da coerção, da discriminação no acesso a recursos econômicos e poder político, e da recompensa de privilégios de classe dada às mulheres que se conformam. As mulheres participam no processo de sua subordinação porque internalizam a ideia de sua inferioridade. Como apontou Simone de Beauvoir: “o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos”.
Muitas mulheres acreditam que precisam de um homem protetor, e que isso está ligado a afeto. Existe uma chantagem emocional de perda de afeto da parte dos homens às mulheres que se rebelam.
Quantas meninas já não ouviram que “papai não gosta” de garotas insubordinadas? No patriarcado, a rebeldia é tida como mau comportamento.
Apesar de todas as conquistas feministas das últimas décadas, ainda vivemos no patriarcado. Como chamar por outro nome a realidade que mostra o relatório mais recente da ONU? Ele aponta que 137 mulheres são mortas por dia no mundo por um membro da família. Em 2017, de todas as mulheres assassinadas no planeta, 58% foram mortas por alguém da família. Além disso, 3 bilhões de mulheres vivem em países nos quais o estupro no casamento não é crime. Ao mesmo tempo, ainda se vende a ideia de que o ambiente doméstico é onde a mulher está protegida. E de que lutar contra essa proteção só pode ser coisa de feministas, essas mulheres mal-amadas que querem acabar com a família tradicional e com o sistema patriarcal, tão benéfico para as mulheres.
Faz sentido que o sistema demonize quem luta contra ele. Talvez, quando derrubarmos o patriarcado, o feminismo não será mais necessário. Até lá, o patriarcado insistirá em fazer da palavra
“feminismo” um palavrão. E as mulheres continuarão a pagar o preço das decisões tomadas quase que exclusivamente por homens em nossa sociedade.
A História das Mulheres é uma história de exclusão, de apagamentos, de sabotagens, de desvalorizações. Para se atacar a luta das mulheres, que historicamente leva o nome de feminismo, é preciso que nosso protagonismo seja negado. É preciso fingir que nunca lutamos. Por isso é tão relevante conhecer a nossa história.
E A C
P
, Lerner desenvolve as seguintes
proposições (cada uma rendendo um capítulo): 1) A apropriação pelos homens da capacidade sexual e reprodutiva das mulheres ocorreu antes da formação da propriedade privada e da sociedade de classes. A mercantilização das mulheres é a fundação da propriedade privada. 2) Os estados arcaicos eram organizados na forma do patriarcado, ou seja, desde o início o Estado tinha interesse na manutenção da família patriarcal. 3) Os homens aprenderam a exercer dominação e a hierarquia sobre outras pessoas praticando com mulheres do próprio grupo. A escravização começou com mulheres sendo escravizadas. 4) A subordinação sexual das mulheres foi institucionalizada já nos primeiros Códigos Penais. A cooperação das mulheres com o sistema era assegurada por meio da força, da dependência econômica em relação ao chefe homem da família, dos privilégios de classe dados a mulheres conformadas e dependentes das classes altas, e da divisão criada de modo artificial entre mulheres respeitáveis e não respeitáveis. 5)
A classe para os homens era e é baseada em sua relação com os meios de produção (quem tem os meios pode dominar quem não os tem). Para as mulheres, a classe é mediada de acordo com seus laços com um homem, que pode lhe dar acesso a recursos materiais. Mulheres respeitáveis são aquelas ligadas a um homem.
6) O poder feminino em dar vida é idolatrado por homens e mulheres (por meio de deusas) mesmo depois de as mulheres estarem subordinadas aos homens. 7) As deusas poderosas são destronadas e substituídas por um deus masculino dominante após o estabelecimento de um forte reinado imperialista. Sexualidade e procriação são separadas segundo sua função, e a Deusa-Mãe é transformada na esposa ou amante do chefe masculino. 8) A emergência do monoteísmo judaico e depois judaico-cristão transforma-se em ataque a cultos de várias deusas da fertilidade.
Criatividade e procriação são atribuídas a um deus todo-poderoso, chamado de “senhor” e “rei”, ou seja, homem, e a sexualidade feminina que não for para procriar fica associada ao pecado e ao mal. 9) O único acesso das mulheres a Deus passa a ser na sua função de mãe. 10) Essa desvalorização simbólica das mulheres em relação ao divino se torna uma das metáforas marcantes da civilização ocidental. A outra metáfora é dada pela filosofia de Aristóteles, que pressupõe que as mulheres sejam incompletas e defeituosas, uma espécie diferente da do homem. É por meio dessas construções metafóricas que a subordinação das mulheres passa a ser considerada natural, ou seja, invisível. É isso, diz Lerner, que estabelece o patriarcado como ideologia.
Lerner também lembra algo que pode ser observado com facilidade por qualquer pessoa que tenha irmão e irmã: se você quiser saber o nível de liberdade e independência de uma mulher,
compare-o com o do irmão dela. Virginia Woolf fez isso com brilhantismo no texto “Shakespeare’s Sister” [A Irmã de Shakespeare]. Woolf imaginou o que aconteceria se o grande dramaturgo inglês tivesse uma irmã tão genial e talentosa como ele, e chegou à seguinte conclusão: nada. À irmã de Shakespeare não seria permitido sequer ir à escola, muito menos escrever para o teatro.
Antes de ler A Criação do Patriarcado, nunca tinha me dado conta de dois pontos fundamentais: que a escravidão teve início com homens escravizando mulheres e que uma história comum e universal de escravização das mulheres envolve o estupro. Por mais que escravos homens tenham sofrido e ainda sofram com a opressão (pois engana-se quem pensa que a escravidão é algo do passado), a opressão sexual, a rotina do assédio e abuso sexual, não costumam fazer parte do seu dia a dia. Mas fazem parte da rotina das escravas mulheres.
Desde o início da escravidão, homens escravos eram explorados para o trabalho. Já as mulheres escravas eram exploradas para o trabalho, para serviços sexuais e para reprodução. É muito interessante a ideia defendida por Lerner de que os homens
“treinaram” para escravizar outros povos começando com suas mulheres.
Em Noite da Suástica, romance de ficção alternativa de 1937
escrito por Murray Constantine, que só mais de quatro décadas depois os editores revelaram se tratar de um pseudônimo da escritora inglesa Katharine Burdekin, vemos o que aconteceria se o fascismo tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial. Em um futuro distante, 700 anos após a Segunda Guerra Mundial, metade do mundo é dominada pelos alemães, e a outra metade, pelos
japoneses. Em ambos os impérios, a história foi apagada. Livros foram queimados para dar a entender que a civilização começou naquele momento em que o “deus Hitler” venceu. As mulheres vivem em cativeiro e servem apenas para serem estupradas e gerar herdeiros homens. Os filhos são tirados delas aos 18 meses, para que não sejam contaminados pela feminilidade. As mulheres têm status pior que o dos animais, sendo consideradas sem alma e sem inteligência. E o mais doloroso: elas acreditam nisso. Mas por que estou citando esse ótimo romance, além de ser o livro que eu estava lendo enquanto escrevo este prefácio? Porque a distopia de Burdekin mostra que, para que as mulheres possam ser inteiramente dominadas, é preciso apagar toda a história.
Na introdução ao seu livro clássico, Lerner escreve como a História das Mulheres é indispensável para a emancipação das mulheres, e como estudar a própria história muda a vida delas. Ela observou isso em suas alunas. Também observo isso nas minhas, ainda que não lecione História, e sim Literatura. Na realidade, observo que conhecer a História das Mulheres muda também a vida dos alunos homens. Até porque eles aprendem que mulheres são aliadas, não inimigas, e que quem criou o conceito de “sexo oposto”, como se estivéssemos em oposição, como se fôssemos espécies distintas, não foram as feministas, e sim o patriarcado.
Mas as perguntas que Lerner faz no livro ecoam, provocam, geram discussões e reflexões. Uma delas é: por que demoramos tantos anos para nos conscientizarmos de nossa posição subordinada na sociedade? E: como as mulheres podem se emancipar sem conhecer a própria história?
Uma das funções da História em geral é preservar o passado coletivo e reinterpretá-lo para o presente. Aprendemos o passado
também para poder evitar erros. Mas às mulheres é negado um passado. Antes de Lerner, Simone de Beauvoir disse que as mulheres não têm passado, não têm história. Mas a História das Mulheres tem sido escavada e descoberta desde o século XX.
Aprendemos que mulheres sempre criaram, sempre foram agentes da história e da civilização.
Para Lerner, se não temos precedentes, não podemos imaginar alternativas às condições existentes. É exatamente isso que mais manteve as mulheres presas à subordinação durante milênios. A negação das mulheres à própria história reforça sua aceitação à ideologia do patriarcado e destrói a autoestima individual da mulher.
Tal como vivenciamos no nosso dia a dia, o patriarcado desvaloriza as experiências das mulheres. Nosso conhecimento não passa de
“intuição”, nossas conversas são meras “fofocas”.
A boa notícia é que Lerner nos ensina que o patriarcado, como sistema histórico, tem um início na história. E que, por não ser natural – baseado no determinismo biológico –, pode ser derrubado.
Pode e vai, ouso dizer. Porque, apesar desta fase conservadora que vivemos no mundo, as mulheres não vão recuar.
Em um dos meus cursos de extensão sobre como discutir gênero através de cinema e literatura, recomendei aos alunos e às alunas a leitura de um dos tantos capítulos fascinantes de A Criação do Patriarcado. Porém, este livro icônico só podia ser encontrado em inglês e espanhol. Agora, com a excelente tradução de Luiza Sellera para o português, aquelas que não dominam outras línguas poderão lê-lo. E poderão também inspirar-se para, munidas da própria história, fazer a revolução.
Lola Aronovich, inverno de 2019
A H
M
é indispensável e essencial para a
emancipação das mulheres. Após vinte e cinco anos pesquisando, ensinando e escrevendo sobre a História das Mulheres, cheguei a essa certeza com base em teoria e prática. O argumento teórico será mais bem explicado neste livro; o argumento prático baseia-se em minha observação das profundas mudanças de consciência pelas quais passam as alunas de História das Mulheres. Essa disciplina muda a vida delas. Até mesmo uma breve exposição às experiências vivenciadas por mulheres do passado, como em oficinas e seminários, tem profundo efeito psicológico nas participantes.
Ainda assim, a maior parte do trabalho teórico do feminismo moderno, desde Simone de Beauvoir até o presente, é a-histórica e negligente em termos de conhecimento feminista. Isso era compreensível no início da nova onda feminista, quando o conhecimento sobre o passado das mulheres era escasso, mas, na década de 1980, mesmo com a abundante disponibilidade de excelentes trabalhos acadêmicos sobre História das Mulheres, a distância entre conhecimento histórico e crítica feminista em outros campos persiste. Antropólogos, críticos literários, sociólogos, cientistas políticos e poetas já apresentaram trabalhos teóricos com base na “história”, mas a obra de especialistas em História das Mulheres não se tornou parte do discurso comum. Creio que os motivos para isso ultrapassem a sociologia das mulheres que fazem crítica feminista e também as limitações de suas experiências
acadêmicas e educação. Os motivos estão na relação das mulheres com a história, dominada por conflitos e bastante problemática.
O que é história? Precisamos distinguir o passado não registrado
– todos os eventos do passado segundo os seres humanos se
recordam deles – da História – o passado registrado e interpretado. [
3 ] Assim como os homens, as mulheres são e sempre foram
sujeitos e agentes da história. Uma vez que as mulheres são metade e às vezes mais da metade da humanidade, elas sempre compartilharam o mundo e o trabalho tal qual os homens. As mulheres são e foram peças centrais, e não marginais, para a criação da sociedade e a construção da civilização. Também dividiram com os homens a preservação da memória coletiva, que dá forma ao passado, tornando-o tradição cultural, fornece o elo entre gerações e conecta passado e futuro. Essa tradição oral foi mantida viva em forma de poemas e mitos, que tanto homens quanto mulheres criaram e preservaram em folclore, arte e ritos.
O fazer História, por outro lado, é uma criação que remonta à época da invenção da escrita na Antiga Mesopotâmia. Da época dos reis da Antiga Suméria em diante, historiadores, fossem sacerdotes, servos reais, escribas, clérigos ou alguma classe de intelectuais com instrução universitária, passaram a selecionar os eventos que seriam registrados e a interpretá-los para que tivessem significado e significância. Até o passado mais recente, esses historiadores eram homens, e o que registravam era o que homens haviam feito, vivenciado e considerado significativo. Chamaram isso de História e afirmaram ser ela universal. O que as mulheres fizeram e vivenciaram ficou sem registro, tendo sido negligenciado, bem como a interpretação delas, que foi ignorada. O conhecimento histórico, até pouco tempo atrás, considerava as mulheres irrelevantes para a
criação da civilização e secundárias para atividades definidas como importantes em termos históricos.
Assim, o registro gravado e interpretado do passado da espécie humana é apenas um registro parcial, uma vez que omite o passado de metade dos seres humanos, sendo portanto distorcido, além de contar a história apenas do ponto de vista da metade masculina da humanidade. Rebater esse argumento, como costuma ser feito, mostrando que grandes grupos de homens, possivelmente a maioria, também foram eliminados do registro histórico por muito tempo devido a interpretações preconceituosas de intelectuais que representavam os interesses de pequenas elites é desviar da questão. Um erro não anula o outro; os dois erros conceituais precisam ser corrigidos. Assim como grupos antes subordinados, tal como camponeses, escravos e o proletariado, alcançaram posições de poder – ou pelo menos de inclusão – na organização política, suas experiências devem se tornar parte do registro histórico. Ou seja, com relação às experiências dos homens daquele grupo, as das mulheres, como sempre, foram excluídas. A questão é que homens e mulheres sofreram exclusão e discriminação por razões de classe. Mas nenhum homem foi excluído do registro histórico por causa de seu sexo, embora todas as mulheres o tenham sido.
As mulheres foram impedidas de contribuir com o fazer História, ou seja, a ordenação e a interpretação do passado da humanidade.
Como esse processo de dar significado é essencial para a criação e perpetuação da civilização, podemos logo ver que a marginalização das mulheres nesse esforço as coloca em uma posição ímpar e segregada. As mulheres são maioria, mas são estruturadas em instituições sociais como se fossem minoria.
Embora as mulheres venham sendo vitimadas por isso, e também por muitos outros aspectos de sua longa subordinação aos homens, é um erro básico tentar conceituar as mulheres essencialmente como vítimas. Fazê-lo de maneira instantânea esconde o que deve ser admitido como fato da situação histórica feminina: as mulheres são essenciais e peças centrais para criar a sociedade. São e sempre foram sujeitos e agentes da história. As mulheres “fizeram história”, mesmo sendo impedidas de conhecer a própria História e de interpretar a história, seja a delas mesmas ou a dos homens.
Foram excluídas da iniciativa de criar sistemas de símbolos, filosofias, ciências e leis. Elas não apenas vêm sendo privadas de educação ao longo da história em toda sociedade conhecida, mas também excluídas da formação de teorias. Nomeei de “a dialética da história das mulheres” a tensão entre a experiência histórica real das mulheres e sua exclusão da interpretação dessa experiência.
Essa dialética impulsionou as mulheres para o processo histórico.
A contradição entre a centralidade e o papel ativo das mulheres na criação da sociedade e sua marginalização no processo de dar significado por meio de interpretação e explicação é uma força dinâmica, fazendo com que elas lutem contra a própria condição.
Nesse processo de embate, em determinados momentos históricos, quando as mulheres adquirem consciência das contradições em sua relação com a sociedade e com o processo histórico, estas são percebidas do modo correto e chamadas de privações, algo que as mulheres compartilham como grupo. Essa tomada de consciência por parte das mulheres torna-se a força dialética que as impele à ação para mudar a própria condição e começar um novo relacionamento com a sociedade dominada pelos homens.
Em razão dessas condições exclusivas às mulheres, elas tiveram uma experiência histórica expressivamente diferente da dos homens.
Comecei fazendo a seguinte pergunta: quais são as definições e os conceitos necessários para que possamos explicar a relação única e segregada das mulheres em relação ao processo histórico, ao fazer história e à interpretação do próprio passado?
Outra questão que esperava que meu estudo abordasse tinha relação com o longo atraso (mais de 3.500 anos) de conscientização feminina sobre a própria posição de subordinação na sociedade.
Qual seria a explicação? O que poderia explicar a “cumplicidade”
histórica das mulheres em preservar o sistema patriarcal que as subjugava e em transmitir tal sistema, ao longo das gerações, a seus filhos, de ambos os sexos?
Essas questões são importantes e desagradáveis porque parecem revelar respostas que indicam a vitimização e a inferioridade essencial das mulheres. Acho que é o motivo pelo qual essas questões não foram abordadas antes por pensadoras feministas, embora o conhecimento masculino tradicional nos tenha oferecido a resposta patriarcal: mulheres não produziram avanços importantes no campo do pensamento devido à preocupação, determinada biologicamente, com a criação dos filhos e as emoções. Essa seria a causa da “inferioridade” essencial das mulheres em relação ao pensamento abstrato. Em vez disso, parto do princípio de que homens e mulheres são biologicamente diferentes, mas que os valores e as implicações baseados nessa diferença resultam da cultura. Quaisquer diferenças perceptíveis no presente quanto a
“homens como grupo” e “mulheres como grupo” são o resultado da história particular das mulheres, que é basicamente diferente da
história dos homens. Isso ocorre em razão da subordinação das mulheres aos homens, que é mais antiga do que a civilização, e da negação da história das mulheres. A existência da história das mulheres foi ignorada e omitida pelo pensamento patriarcal – fato que afetou a psicologia de homens e mulheres de forma significativa.
Comecei com a convicção, compartilhada pela maioria das pensadoras feministas, de que o patriarcado como sistema é histórico: tem início na história. Sendo assim, pode ser extinto pelo processo histórico. Se o patriarcado fosse “natural”, ou seja, com base em determinismo biológico, então mudá-lo seria mudar a natureza. Pode-se argumentar que mudar a natureza é exatamente o que a civilização fez, mas que, até agora, a maioria dos benefícios advindos do domínio sobre ela, que os homens chamam de
“progresso”, favoreceu o grupo masculino da espécie. Por que e como isso aconteceu são perguntas históricas, não importando como são explicadas as causas da subordinação feminina. Minha hipótese sobre as causas e origens da subordinação das mulheres será discutida com mais detalhes nos capítulos Um e Dois. O que importa para a minha análise é a compreensão de que a relação de homens e mulheres com o conhecimento de seu passado é, por si só, uma força motriz no fazer história.
Se fosse o caso de a subordinação das mulheres anteceder a civilização ocidental, supondo-se que tal civilização tenha começado com o registro histórico escrito, minha investigação deveria ter início no quarto milênio a.C. Foi isso que me levou, como historiadora americana especializando-se no século XIX, a passar os últimos oito anos trabalhando com a história da Antiga Mesopotâmia a fim de responder às perguntas que considero essenciais para criar uma
teoria feminista da história. Embora as perguntas sobre a “origem”
me interessassem a princípio, logo percebi que eram bem menos significativas do que as perguntas a respeito do processo histórico pelo qual o patriarcado se estabeleceu e se institucionalizou.
Esse processo manifestou-se na organização familiar e nas relações econômicas, na instituição de burocracias religiosas e governamentais e na mudança das cosmogonias, expressando a supremacia de divindades masculinas. Embasada em obras teóricas existentes, eu admitia que essas mudanças ocorriam como “evento”
em um período relativamente curto, que pode ter coincidido com a instituição de estados arcaicos ou pode ter ocorrido um pouco antes, na época da instituição da propriedade privada, o que originou a sociedade de classes. Sob a influência de teorias marxistas de origem, que serão abordadas com mais detalhes no Capítulo Um, eu visualizava um tipo de “subversão” revolucionária que teria alterado visivelmente as relações de poder na sociedade. Esperava encontrar mudanças econômicas que houvessem causado
mudanças em ideias e sistemas explicativos religiosos. Procurava em particular por mudanças visíveis no status econômico, político e jurídico das mulheres. Mas, conforme imergi no estudo das ricas fontes da história do Antigo Oriente Próximo e comecei a considerá-
las em sequência histórica, ficou claro para mim que minha suposição havia sido muito simplista.
O problema não está nas fontes, pois com certeza elas são abundantes para a reconstrução da história social da antiga sociedade mesopotâmica. O problema de interpretação é semelhante ao enfrentado por historiadores de qualquer campo que abordem a história tradicional com questões relativas às mulheres.
Existe pouco material significativo disponível sobre mulheres, e o
que existe é puramente descritivo. Ainda não foram propostas interpretações nem generalizações a respeito de mulheres por especialistas de trabalho de campo.
Assim, a história das mulheres e a história das relações inconstantes dos sexos nas sociedades mesopotâmicas ainda precisam ser escritas. Tenho o maior respeito pela erudição e pelo conhecimento técnico e linguístico dos acadêmicos da área de Estudos do Antigo Oriente Próximo, e tenho certeza de que, em algum momento, algum deles fará uma pesquisa que sintetizará e colocará em perspectiva adequada a história praticamente não contada do inconstante status social, político e econômico das mulheres no terceiro e no segundo milênios a.C. Por não ter formação em assiriologia e não ser capaz de ler os textos cuneiformes originais, não tentei escrever essa história.
Entretanto, percebi que a sequência de eventos parecia ser um tanto diferente do que eu havia previsto. Embora a formação de estados arcaicos, que acompanhou ou coincidiu com grandes mudanças econômicas, tecnológicas e militares, tenha trazido consigo mudanças distintas nas relações de poder entre homens e entre homens e mulheres, não havia, em lugar algum, evidências de
“subversão”. O período do “estabelecimento do patriarcado” não foi um “evento”, mas um processo que se desenrolou durante um espaço de tempo de quase 2.500 anos, de cerca de 3100 a 600 a.C.
Aconteceu, mesmo no Antigo Oriente Próximo, em ritmo e momento diferentes, em sociedades distintas.
Além disso, as mulheres pareciam ter status diferentes em aspectos distintos da vida, de modo que, por exemplo, na Babilônia do segundo milênio a.C., a sexualidade das mulheres era totalmente controlada pelos homens, enquanto algumas delas tinham grande
independência econômica, muitos direitos e privilégios legais, e ocupavam várias posições importantes, de alto status na sociedade.
Fiquei perplexa em descobrir que as evidências históricas em relação às mulheres faziam pouco sentido quando consideradas de acordo com os critérios tradicionais. Depois de um tempo, comecei a perceber que precisava focar mais no controle da sexualidade e da reprodução das mulheres do que nas habituais questões econômicas, então passei a procurar as causas e os efeitos desse controle sexual. Conforme o fiz, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Não conseguia compreender o que significavam as evidências à minha frente porque eu avaliava a formação de classes, aplicada a homens e mulheres, com a presunção tradicional de que o que era verdade para homens também era verdade para mulheres. Quando comecei a questionar como a definição de classe era diferente para mulheres e homens, desde o início da sociedade de classes, as evidências à minha frente fizeram sentido.
Neste livro, desenvolverei as seguintes propostas:
a. A apropriação da função sexual e reprodutiva das mulheres pelos homens ocorreu antes da formação da propriedade privada e da sociedade de classes. A transformação dessa capacidade em mercadoria, na verdade, está no alicerce da propriedade privada. (Capítulos Um e Dois.)
b. Os estados arcaicos foram organizados no formato do patriarcado; assim, desde o início, o Estado tinha um interesse fundamental na permanência da família patriarcal. (Capítulo Três.)
c. Os homens aprenderam a instituir dominância e hierarquia sobre outras pessoas praticando antes a dominância sobre as mulheres do próprio grupo. Isso se manifestou na
institucionalização da escravidão, que começou com a escravização de mulheres dos grupos conquistados. (Capítulo Quatro.)
d. A subordinação sexual das mulheres foi institucionalizada nos mais antigos códigos de leis e imposta pelo poder total do Estado. Garantia-se a cooperação das mulheres por vários meios: força, dependência econômica do chefe de família, privilégios de classe concedidos a mulheres dependentes e obedientes das classes mais altas, e pelo artifício da divisão de mulheres em respeitáveis e não respeitáveis. (Capítulo Cinco.) e. A classe, para os homens, foi e é baseada na relação com os meios de produção: aqueles que possuíam os meios de produção podiam dominar os que não os possuíam. Para as mulheres, a classe é mediada pelos seus vínculos sexuais com um homem, que então lhes proporciona acesso a recursos materiais. A divisão de mulheres entre “respeitável” (ou seja, vinculada a um homem) e “não respeitável” (ou seja, sem vínculo com um homem ou livre de todos os homens) é
institucionalizada em leis relacionadas ao uso de véu por mulheres. (Capítulo Seis.)
f. Depois de muito tempo de subordinação sexual e econômica aos homens, as mulheres ainda desempenham papéis ativos e respeitados de mediação entre seres humanos e deuses como sacerdotisas, videntes, adivinhas e curandeiras. O poder feminino metafísico, em particular o poder de dar a vida, é venerado por homens e mulheres na forma de deusas
poderosas mesmo bastante tempo depois de as mulheres serem subordinadas aos homens na maioria dos aspectos da vida.
(Capítulo Sete.)
g. O destronamento de deusas poderosas, sendo substituídas por um deus masculino dominante, ocorre em quase todas as sociedades do Oriente Próximo após a instituição de uma monarquia forte e imperialista. De forma gradual, a função de controlar a fertilidade, que antes cabia totalmente às deusas, é representada por meio da cópula, real ou simbólica, do deus masculino ou Deus-Rei com a Deusa ou sua sacerdotisa. Por fim, a sexualidade (erotismo) e a procriação são separadas com o surgimento de deusas específicas para cada função, e a Deusa-Mãe transforma-se na esposa/cônjuge do Deus
masculino principal. (Capítulo Sete.)
h. O surgimento do monoteísmo hebraico toma a forma de um ataque aos cultos difundidos a várias deusas da fertilidade. Ao escrever o Gênesis, a criação e a procriação são atribuídas ao Deus onipotente, cujos epitáfios “Senhor” e “Rei” o estabelecem como um deus masculino; e a sexualidade feminina, a não ser para fins de procriação, passa a ser associada ao pecado e ao mal. (Capítulo Oito.)
i. Na instituição da comunhão da aliança, o simbolismo básico e o real contrato entre Deus e a humanidade admitem como fato a posição subordinada das mulheres e a exclusão da aliança metafísica e da comunhão da aliança terrena. O único acesso das mulheres a Deus e à comunhão sagrada é na função de mãe. (Capítulo Nove.)
j. Essa desvalorização simbólica das mulheres em relação à divindade torna-se uma das metáforas fundamentais da
civilização ocidental. A outra metáfora fundamental é oferecida pela filosofia aristotélica, que admite como fato que mulheres são seres humanos incompletos e defeituosos de uma categoria totalmente diferente da dos homens (Capítulo Dez). É com a criação desses dois constructos metafóricos que se constroem os próprios alicerces dos sistemas de símbolos da civilização ocidental; que a subordinação das mulheres passa a ser vista como “natural”, tornando-se, em decorrência disso, invisível. É
isso que enfim estabelece com firmeza o patriarcado como realidade e como ideologia.
Q
– e, especificamente,
conceitos sobre gênero [ 4 ] – e as forças sociais e econômicas que moldam a história? A matriz de qualquer conceito é a realidade – as pessoas não podem conceber algo que elas próprias não tenham vivenciado ou pelo menos que outras pessoas não tenham vivenciado antes delas. Assim, imagens, metáforas e mitos manifestam-se de maneira “prefigurada” pela experiência passada.
Em épocas de mudança, as pessoas reinterpretam esses símbolos de novos jeitos, originando-se, assim, novas combinações e novas compreensões.
O que estou tentando fazer neste livro é traçar, por meio de evidências históricas, o desenvolvimento dos principais conceitos, símbolos e metáforas pelos quais as relações patriarcais entre gêneros foram incorporadas à civilização ocidental. Cada capítulo é construído em torno de uma dessas metáforas para o gênero, conforme indicado no título do capítulo. Tentei isolar e identificar os aspectos pelos quais a civilização ocidental construiu o gênero e estudá-los em momentos ou épocas de mudança. Tais aspectos
consistem de normas sociais incorporadas em papéis sociais, em leis e em metáforas. De certo modo, esses aspectos representam artefatos históricos com base nos quais se pode compreender a realidade social que originou o conceito ou a metáfora. Ao traçar as mudanças em metáforas ou representações, pretende-se ser possível traçar os desdobramentos históricos subjacentes na sociedade, mesmo na ausência de outras evidências históricas. No caso da sociedade mesopotâmica, a abundância de evidências históricas torna possível, na maioria dos casos, a confirmação de uma análise de símbolos por comparação com tais evidências concretas.
As principais metáforas e representações de gênero da civilização ocidental vieram de fontes mesopotâmicas e, depois, hebraicas. É
claro que seria desejável estender este estudo a fim de incluir influências árabes, egípcias e europeias, mas tal iniciativa demandaria mais anos de pesquisa acadêmica com que posso, na minha idade, esperar me comprometer. Só posso esperar que meu esforço para reinterpretar as evidências históricas disponíveis inspire outros, para que continuem a fazer as mesmas perguntas em sua área de especialidade e com ferramentas acadêmicas disponíveis mais refinadas.
Quando iniciei este trabalho, eu o concebi como o estudo da relação das mulheres com a criação do sistema de símbolos, sua exclusão desse processo, seus esforços para escapar da desvantagem educacional sistemática à qual eram sujeitas e, por fim, a tomada de consciência feminista. Mas, conforme progredia meu trabalho com as fontes da Antiga Mesopotâmia, a riqueza de evidências me obrigou a expandir o livro para dois volumes, o primeiro deles terminando por volta de 400 a.C. E o segundo volume
abordando a ascensão da consciência feminista, obra que abrange a Era Cristã, da idade média até o século XVIII. [ 5 ]
Embora eu acredite que minha hipótese tenha ampla
aplicabilidade, não estou, com base no estudo de uma região, tentando propor uma “teoria geral” sobre o surgimento do patriarcado e do machismo. A hipótese teórica que apresento para a civilização ocidental vai precisar ser testada e comparada com outras culturas quanto à aplicabilidade geral.
A
, como devemos pensar
em “mulheres como grupo”? Três metáforas podem nos ajudar a enxergar as coisas desse novo ponto de vista.
Em seu brilhante artigo de 1979, Joan Kelly falou sobre a nova
“dupla visão” do conhecimento feminista:
[...] o lugar da mulher não é uma esfera ou domínio de existência à parte, mas uma posição dentro da existência social de forma geral. [...] [O] pensamento feminista caminha para além da visão dividida da realidade social herdada do passado recente. Nosso real ponto de vista mudou, abrindo espaço para a nova conscientização do “lugar” da mulher na família e na sociedade. [...] [O] que vemos não são duas esferas da realidade social (lar e trabalho, privado e público), mas dois (ou três) conjuntos de relações sociais. [ 6 ]
Estamos adicionando a visão feminina à visão masculina, e esse processo é transformador. Mas a metáfora de Joan Kelly precisa dar um passo a mais: quando usamos um dos olhos para enxergar, nossa visão tem alcance limitado e nenhuma profundidade. Ao adicionar apenas a visão do outro olho, nosso alcance aumenta,
mas a visão continua sem profundidade. Apenas quando os dois olhos enxergam juntos é que obtemos total alcance de visão e percepção exata de profundidade.
O computador nos oferece outra metáfora. Ele nos mostra uma imagem de triângulo (bidimensional). Ainda mantendo essa imagem, o triângulo se move no espaço e vira uma pirâmide (tridimensional).
Agora a pirâmide se move no espaço e cria uma curva (a quarta dimensão), ainda mantendo a imagem da pirâmide e do triângulo.
Vemos as quatro dimensões de uma vez, sem perder nenhuma, mas observando também a verdadeira relação de uma com as outras.
Ver da forma como vemos, em termos patriarcais, é bidimensional.
“Adicionar mulheres” à estrutura patriarcal torna a visão tridimensional. Mas apenas quando a terceira dimensão está totalmente integrada e caminha com o conjunto; apenas quando a visão das mulheres é equivalente à visão dos homens é que percebemos as verdadeiras relações do todo e das conexões internas das partes.
Por fim, outra imagem. Homens e mulheres vivem em um palco no qual desempenham seus papéis designados, ambos de igual importância. A peça não pode prosseguir sem os dois tipos de atores. Nenhum deles “contribui” mais ou menos para o conjunto; nenhum é secundário nem dispensável. Mas o cenário é concebido, pintado e definido por homens. Homens escreveram a peça, dirigiram o espetáculo, interpretaram os significados da ação. Eles se autoescalaram para os papéis mais interessantes e heroicos, deixando para as mulheres os papéis de coadjuvante.
Conforme as mulheres tomam consciência da diferença na forma como se encaixam na peça, pedem mais igualdade na distribuição
de papéis. Elas ofuscam a atuação dos homens algumas vezes; em outras, substituem um ator que faltou. Por fim, com muito esforço, as mulheres ganham o direito ao acesso à distribuição igual de papéis, mas antes precisam “se qualificar”. Os termos das
“qualificações” são novamente definidos por homens; eles julgam se as mulheres estão à altura; eles permitem ou negam a entrada delas. Dão preferência a mulheres submissas e àquelas que se encaixam com perfeição na descrição da vaga. Homens punem, por meio de ridicularização e exclusão, qualquer mulher que se ache no direito de interpretar o próprio papel ou – o pior dos pecados –
reescrever o roteiro.
Leva muito tempo para que as mulheres entendam que receber papéis “iguais” não as tornará iguais enquanto o roteiro, os objetos de palco, o cenário e a direção ficarem estritamente a cargo de homens. Quando as mulheres começam a se dar conta disso e se reúnem entre os atos, ou mesmo durante o espetáculo, para discutir o que fazer a respeito, a peça chega ao fim.
Observar a História registrada como se fosse uma peça nos faz perceber que a história das atuações ao longo de milhares de anos foi registrada apenas por homens e contada com as palavras deles.
A atenção desses homens estava voltada principalmente para os homens. Não surpreende que não tenham observado todas as ações que as mulheres realizaram. Por fim, nos últimos cinquenta anos, algumas mulheres conquistaram a educação necessária para escrever os roteiros da companhia de teatro. Conforme escreviam, começaram a prestar mais atenção ao que mulheres faziam. Ainda assim, haviam sido bem “adestradas” pelos mentores homens.
Então, no todo, também acharam mais importante o que os homens faziam e, no desejo de melhorar o papel das mulheres no passado,
procuraram com atenção mulheres que haviam feito o que os homens fizeram. Assim nasceu a história compensatória.
O que as mulheres precisam fazer, o que as feministas estão fazendo agora, é apontar para o palco, os cenários, os objetos, o diretor e o roteirista – como fez a criança que gritou que o rei estava nu, tal como no conto de fadas – e dizer que a desigualdade básica entre nós encontra-se dentro dessa estrutura. E depois elas precisam destruí-la.
Como será escrita a história quando esse guarda-chuva de dominação for eliminado e a definição for compartilhada igualmente por homens e mulheres? Desvalorizaremos o passado,
subverteremos as categorias, trocaremos a ordem pelo caos?
Não. Apenas caminharemos sob um céu de liberdade.
Observaremos como ele muda, como as estrelas nascem e a lua gira, e descreveremos a Terra e seus processos em vozes masculinas e femininas. Poderemos, no fim das contas, enxergar com mais enriquecimento. Agora sabemos que o homem não é o parâmetro do que é humano; homens e mulheres o são. Os homens não são o centro do mundo; homens e mulheres o são. Essa compreensão transformará a consciência de forma tão decisiva quanto a descoberta de Copérnico de que a Terra não é o centro do universo. Poderemos interpretar papéis específicos no palco, às vezes trocando-os ou decidindo mantê-los, como quisermos.
Poderemos descobrir novos talentos entre aquelas que sempre viveram sob o guarda-chuva criado por outro. Poderemos descobrir que aquelas que antes carregaram o fardo tanto da ação quanto da definição agora podem ter mais liberdade para agir e experimentar o genuíno prazer de existir. Nossa obrigação de descrever o que encontraremos não é maior do que era a obrigação dos
exploradores que navegaram até o limiar do mundo só para descobrir que o mundo era redondo.
Jamais saberemos enquanto não começarmos. O processo em si é o caminho, é o objetivo.
UM
ORIGENS
O
– ferramentas, túmulos,
cacos de cerâmica, vestígios de habitações e santuários, artefatos de função desconhecida em paredes de cavernas, restos mortais e a história que eles contam – se apresentam diante de nós em uma diversidade desconcertante. Nós os juntamos a mitos e especulação; os confrontamos com o que sabemos sobre povos
“primitivos” que sobreviveram até o presente; usamos ciência, filosofia, religião para construir um modelo desse passado distante, anterior ao início da civilização.
A abordagem que usamos na interpretação – nossa estrutura de conceitos – determina o resultado. Tal estrutura nunca é isenta de valores. Fazemos as perguntas do passado que queremos que sejam respondidas no presente. Por um longo período de tempo histórico, admitiu-se a estrutura de conceitos que criou nossas perguntas como fato indiscutível e incontestável. Enquanto a visão teleológica cristã dominava o pensamento histórico, a história pré-
cristianismo era vista apenas como um estágio preparatório para a história verdadeira, que começou com o nascimento de Cristo e terminaria com a Segunda Vinda do Cristo. Quando a teoria
darwinista dominava o pensamento histórico, a Pré-História era vista como um estágio “selvagem” no progresso evolutivo da humanidade, do simples ao mais complexo. O que prosperou e sobreviveu foi, pelo mero fato de ter sobrevivido, considerado superior ao que desapareceu, portanto, “fracassou”. Enquanto suposições androcêntricas dominavam nossas interpretações, entendíamos o sistema de sexo/gênero prevalente no presente olhando para o passado. Admitíamos a existência da dominação masculina como fato e considerávamos qualquer prova em contrário apenas uma exceção à regra ou alternativa malsucedida.
Tradicionalistas, seja trabalhando sob uma óptica religiosa ou
“científica”, consideraram a submissão das mulheres como algo universal, determinado por Deus ou natural, portanto, imutável.
Assim, algo que não precisava ser questionado. O que permaneceu, permaneceu por ser o melhor; consequentemente, deve continuar assim.
Acadêmicos com uma visão crítica a suposições androcêntricas e aqueles que enxergam a necessidade de uma mudança social no presente contestaram o conceito da universalidade da submissão feminina. Eles argumentam que, se o sistema de dominação patriarcal tem origem histórica, pode ser extinto em circunstâncias históricas diferentes. Portanto, a questão da universalidade da submissão feminina é, há mais de 150 anos, central para o debate entre tradicionalistas e pensadoras feministas.
Para quem critica as explicações patriarcais, a próxima pergunta importante a ser feita é: se a submissão feminina não era universal, então alguma vez houve um modelo alternativo de sociedade? Essa questão não raro se traduziu na busca por uma sociedade matriarcal no passado. Como muitas das evidências nessa busca têm origem
em mito, religião e símbolo, foi dada pouca atenção às evidências históricas.
Para historiadores, a questão mais importante e significativa é: como, quando e por que a submissão feminina passou a existir?
Portanto, antes de entrar na discussão sobre o desenvolvimento histórico do patriarcado, precisamos rever os principais pontos de vista a respeito dessas três perguntas na discussão do assunto.
A resposta tradicionalista à primeira pergunta, é claro, é que a dominação masculina é universal e natural. O argumento pode ser proposto em termos religiosos: a mulher é submissa ao homem porque assim foi criada por Deus. [ 7 ] Tradicionalistas aceitam o fenômeno da “assimetria sexual”, a atribuição de diferentes tarefas e papéis para homens e mulheres, algo observado em todas as sociedades humanas conhecidas, sendo prova desse ponto de vista e evidência de seu caráter “natural”. [ 8 ] Eles argumentam que, se à mulher foi atribuída, por planejamento divino, uma função biológica diferente da do homem, a ela também devem ser atribuídas diferentes tarefas sociais. Se Deus ou a natureza criaram diferenças entre os sexos, que, em consequência, determinaram a divisão sexual do trabalho, ninguém pode ser culpado pela desigualdade sexual e pela dominação masculina.
A explicação tradicionalista concentra-se na capacidade reprodutiva feminina e vê a maternidade como a maior meta na vida das mulheres, definindo, assim, como desviantes mulheres que não se tornam mães. Considera-se a função materna uma necessidade da espécie, uma vez que as sociedades não teriam conseguido chegar à modernidade sem que a maioria das mulheres dedicasse quase toda a vida adulta a ter e criar filhos. Assim, vê-se a divisão
sexual do trabalho com base em diferenças biológicas como justa e funcional.
A consequente explicação da assimetria sexual coloca as causas da submissão feminina em fatores biológicos pertinentes aos homens. A maior força física, a capacidade de correr mais rápido e levantar mais peso e a maior agressividade dos homens fazem com que eles se tornem caçadores. Portanto, tornam-se os provedores de alimento nas tribos e são mais valorizados e honrados do que as mulheres. As habilidades decorrentes da experiência em caça, consequentemente, permitem que se tornem guerreiros. O homem-caçador, superior em força, habilidade e com experiência oriunda do uso de ferramentas e armas, “naturalmente” vai proteger e defender a mulher, mais vulnerável, cujo aparato biológico a destina à maternidade e aos cuidados com o outro. [ 9 ] Por fim, essa explicação determinista do ponto de vista biológico estende-se da Idade da Pedra até o presente pela afirmação de que a divisão sexual do trabalho com base na “superioridade” natural do homem é um fato, e, portanto, continua tão válida hoje quanto era nos primórdios da sociedade humana.
Nos dias atuais, essa teoria é, de várias maneiras e de longe, a versão mais popular do argumento tradicionalista, tendo grande efeito de explicação e corroboração de ideias contemporâneas de supremacia masculina. É provável que isso tenha ocorrido em razão de sua pompa “científica” com base em uma seleção de evidências etnográficas e no fato de considerar a dominação masculina de um modo que traz alívio aos homens, pois os isenta de qualquer responsabilidade sobre ela. A profundidade com que essa explicação afetou até mesmo teóricas feministas evidencia-se em sua aceitação parcial por Simone de Beauvoir, que considera um
fato a “excelência” do homem vir da caça e da guerra, como
também do uso de ferramentas necessárias ao exercício de ambas. [
Ainda que não mencionemos as alegações biológicas duvidosas de superioridade física masculina, a explicação do homem-caçador foi refutada por evidências antropológicas em relação a sociedades de caçadores-coletores. Na maioria dessas sociedades, a caça de grandes animais é uma atividade auxiliar, enquanto o fornecimento dos principais alimentos vem de atividades de coleta e caça de pequenos animais, que mulheres e crianças executam. [ 11 ] Além disso, como veremos a seguir, é precisamente em sociedades de caçadores-coletores que encontramos muitos exemplos de complementaridade entre os sexos e sociedades nas quais mulheres têm status relativamente alto, contradizendo de modo direto as afirmações da escola de pensamento do homem-caçador.
Antropólogas feministas vêm contestando nos últimos tempos muitas das generalizações iniciais – segundo as quais a dominação masculina era praticamente universal em todas as sociedades conhecidas –, tratando-as como suposições patriarcais da parte de etnógrafos
e
pesquisadores
daquelas
culturas.
Quando
antropólogas feministas revisaram os dados ou fizeram o próprio trabalho de campo, descobriram que a dominação masculina estava longe de ser universal. Encontraram sociedades nas quais a assimetria sexual não tinha conotação de dominação ou submissão.
Em vez disso, as tarefas realizadas por ambos os sexos eram indispensáveis para a sobrevivência do grupo, e o status de ambos os sexos era considerado igual na maioria dos aspectos. Nessas sociedades, os sexos eram considerados “complementares”; seus papéis e status eram diferentes, mas nivelados. [ 12 ]
Outra forma de refutação de teorias do homem-caçador envolveu contribuições essenciais e culturalmente inovadoras de mulheres para a criação da civilização, com a invenção da cestaria e da olaria, bem como o conhecimento e o desenvolvimento da horticultura. [ 13 ]
Elise Boulding demonstrou, em particular, que o mito do homem-caçador e sua perpetuação são criações socioculturais que servem à manutenção da supremacia e da hegemonia masculinas. [ 14 ]
A defesa tradicionalista da supremacia masculina com base em determinismo biológico mudou com o tempo e se provou bastante adaptável e resiliente. Quando o argumento religioso perdeu força no século XIX, a explicação tradicionalista da inferioridade das mulheres tornou-se “científica”. As teorias darwinistas reforçaram crenças de que a sobrevivência da espécie era mais importante do que a autorrealização. Por mais que o movimento Evangelho Social usasse a ideia darwinista de sobrevivência do mais forte para justificar a distribuição desigual de riquezas e privilégios na sociedade norte-americana, defensores científicos do patriarcado justificavam a definição de mulheres pelo papel materno e pela exclusão de oportunidades econômicas e educacionais como algo necessário para a sobrevivência da espécie. Era por causa da constituição biológica e da função materna que mulheres eram consideradas inadequadas para a educação superior e muitas atividades vocacionais. Menstruação, menopausa e até gravidez eram vistas como debilitantes, doenças ou condições anormais, que incapacitavam as mulheres e as tornavam de fato inferiores. [ 15 ]
De modo semelhante, a psicologia moderna observou as diferenças sexuais existentes segundo a suposição não questionada de que eram naturais e, assim, forjou uma mulher psicológica tão determinada pela biologia quanto suas antepassadas. Observando
os papéis dos sexos sem considerar a história, psicólogos precisaram chegar a conclusões com base no estudo de dados clínicos que reforçavam os papéis de gênero predominantes. [ 16 ]
As teorias de Sigmund Freud reforçaram ainda mais a explicação tradicionalista. O humano normal de Freud era macho; a fêmea era, de acordo com sua definição, um ser humano desviante sem pênis, cuja completa estrutura psicológica concentrava-se, segundo supunha, no esforço em compensar essa deficiência. Apesar de muitos aspectos da teoria freudiana se provarem úteis na construção da teoria feminista, foi a máxima de Freud de que, para mulheres, “anatomia é destino” que deu nova vida e força ao argumento de supremacia masculina. [ 17 ]
As aplicações da teoria freudiana à criação dos filhos e à literatura popular de autoajuda, não raro vulgarizadas, deram novo prestígio ao velho argumento de que o principal papel da mulher é ter e criar filhos. Foi a doutrina freudiana popularizada que se tornou literatura consagrada para educadores, assistentes sociais e o público geral da grande mídia. [ 18 ]
Há pouco tempo, a sociobiologia de E. O. Wilson propôs a visão tradicionalista sobre gênero em um argumento que aplica ideias darwinistas de seleção natural ao comportamento humano. Wilson e seus seguidores argumentam que os comportamentos humanos
“adaptáveis” para a sobrevivência do grupo ficam codificados nos genes e incluem traços complexos como altruísmo, lealdade e maternalismo. Eles não só argumentam que grupos que praticam a divisão sexual do trabalho, na qual a função das mulheres é criar filhos, têm vantagem evolutiva, mas também alegam que tal comportamento, de algum modo, torna-se parte de nossa herança genética, visto que as tendências físicas e psicológicas necessárias
para esse sistema social são desenvolvidas de forma seletiva e selecionadas geneticamente. A maternidade não é apenas um papel atribuído pela sociedade, mas um papel adequado às necessidades físicas e psicológicas da mulher. Aqui, mais uma vez, o determinismo biológico é consagrado, na verdade uma defesa política do status quo em linguagem científica. [ 19 ]
Críticas feministas revelaram o raciocínio circular, a falta de evidências e as suposições não científicas da sociobiologia wilsoniana. [ 20 ] Do ponto de vista de quem não é cientista, a falácia mais óbvia dos sociobiólogos é desconsiderar a história ao negligenciar o fato de que homens e mulheres modernos não vivem em estado natural. A história da civilização descreve o processo pelo qual seres humanos se distanciaram da natureza, inventando e aperfeiçoando a cultura. Tradicionalistas ignoram as mudanças tecnológicas, que tornaram possível dar mamadeiras a bebês de maneira segura e criá-los até a idade adulta com cuidadores que não sejam as próprias mães. Eles ignoram as implicações de expectativa de vida e ciclo de vida variáveis. Até a higiene popular e o conhecimento médico moderno reduzirem a mortalidade infantil a um nível em que os pais pudessem esperar que cada filho chegasse à idade adulta, as mulheres precisavam mesmo ter muitos filhos para que alguns sobrevivessem. De modo semelhante, a expectativa de vida maior e a mortalidade infantil mais baixa alteraram os ciclos de vida tanto de homens quanto de mulheres.
Essas evoluções tiveram relação com a industrialização e ocorreram na civilização ocidental (para brancos) perto do fim do século XIX, chegando mais tarde aos pobres e às minorias em razão da distribuição irregular de serviços sociais e de saúde. Enquanto até 1870 a criação dos filhos e o casamento eram concomitantes – ou
seja, era esperado que um ou ambos os pais morressem antes que o filho mais novo chegasse à idade adulta –, na sociedade moderna norte-americana, espera-se que maridos e esposas vivam juntos por doze anos após o filho mais novo chegar à idade adulta, e que as mulheres vivam sete anos a mais que os maridos. [ 21 ]
Entretanto, os tradicionalistas esperam que as mulheres tenham os mesmos papéis e ocupações que eram funcionais e essenciais à espécie no Período Neolítico. Aceitam as mudanças culturais pelas quais os homens se libertaram da necessidade biológica. A substituição do trabalho físico pelo trabalho de máquinas é considerada progresso; apenas as mulheres, sob o ponto de vista deles, estão condenadas pela eternidade a servir à espécie por meio de sua biologia. Afirmar que, de todas as atividades humanas, apenas os cuidados fornecidos por mulheres são imutáveis e eternos é, de fato, destinar metade da raça humana a uma existência inferior, à natureza em detrimento da cultura.
As qualidades que podem ter fomentado a sobrevivência humana no Período Neolítico não são mais necessárias para a população moderna.
Independentemente
de
características
como
agressividade ou nutrição serem transmitidas por meio da genética ou da cultura, deveria ser óbvio que a agressividade dos homens, que pode ter sido bastante funcional na Idade da Pedra, vem ameaçando a sobrevivência humana na era nuclear. Em uma época em que a superpopulação e o esgotamento de recursos naturais representam um perigo real para a sobrevivência humana, restringir a capacidade reprodutiva das mulheres pode ser mais “adaptável”
do que fomentá-la.
Além disso, em oposição a qualquer argumento com base no determinismo biológico, as feministas contestam as suposições
androcêntricas implícitas em ciências que tratam de seres humanos.
Elas observaram que, na biologia, antropologia, zoologia e psicologia, tais suposições levaram a uma interpretação de evidências científicas que distorce seu significado. Assim, por exemplo, atribui-se significado antropomórfico ao comportamento animal, transformando chimpanzés machos em patriarcas. [ 22 ]
Muitas feministas argumentam que o número limitado de diferenças biológicas comprovadas entre os sexos foi demasiadamente exagerado por interpretações culturais e que o valor dado às diferenças sexuais é, por si só, um produto cultural. Atributos sexuais são fatos biológicos, mas gênero é produto de um processo histórico. O fato de mulheres terem filhos ocorre em razão do sexo; o fato de mulheres cuidarem dos filhos ocorre em razão do gênero, uma construção social. É o gênero que vem sendo o principal responsável por determinar o lugar das mulheres na sociedade. [ 23 ]
Vamos agora lançar um rápido olhar às teorias que negam a universalidade da submissão feminina e propõem um estágio inicial de dominação feminina (matriarcado) ou de igualdade entre homens e mulheres. As principais explicações são de cunho econômico-marxista e maternalista.
A análise marxista foi muito influente para que se determinassem as perguntas feitas por acadêmicas feministas. A obra básica de referência é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Friedrich Engels, que descreve “a grande derrota histórica do sexo feminino” como evento oriundo do
desenvolvimento da propriedade privada. [ 24 ] Engels, baseando suas generalizações na obra de etnógrafos e teóricos do século XIX, como J. J. Bachofen e L. H. Morgan, propôs a existência de sociedades comunistas sem classes antes da formação da
propriedade privada. [ 25 ] Tais sociedades podem ou não ter sido matriarcais, mas eram igualitárias. Engels admitiu uma divisão
“primitiva” de trabalho entre os sexos.
O homem vai à guerra, sai para caçar e pescar, obtém matéria-prima para a alimentação e as ferramentas necessárias para isso. A mulher cuida da casa e da preparação dos alimentos e do vestuário, cozinha, tece e costura. Cada um é mestre no próprio campo de trabalho: o homem na floresta, a mulher na casa.
Cada um é dono dos instrumentos que usa. [...] O que é feito e usado em comum é propriedade comum – a casa, a horta, a canoa. [ 26 ]
A descrição da divisão sexual do trabalho primitiva feita por Engels é curiosamente semelhante à descrição de lares de camponeses europeus na Pré-História. As informações etnográficas nas quais ele embasou essas generalizações foram refutadas. Em sociedades mais primitivas do passado e em todas as sociedades de caçadores-coletores que ainda existem hoje, as mulheres proveem, em média, 60% ou mais da alimentação. Para tanto, percorrem longas distâncias com frequência, levando junto seus filhos. Além disso, a suposição de que existe uma fórmula e um padrão para a divisão sexual do trabalho está errada. O trabalho específico feito por homens e mulheres difere muito em culturas distintas, dependendo em grande parte da situação ecológica na qual as pessoas se encontram. [ 27 ] Engels teorizou que, em sociedades tribais, o desenvolvimento da pecuária originou o comércio e a propriedade de rebanhos por chefes de famílias, presumivelmente homens, mas não conseguiu explicar como isso aconteceu. [ 28 ] Os homens se apropriaram dos excedentes do pastoreio, tornando-os propriedade privada. Uma vez adquirida tal propriedade privada, os
homens buscaram garanti-la para eles e seus herdeiros; para isso, instituíram a família monogâmica. Controlando a sexualidade das mulheres com a exigência da virgindade pré-nupcial e a determinação do duplo padrão de julgamento sexual no casamento, os homens garantiram a legitimidade da prole, assegurando, assim, seu direito à propriedade. Engels enfatizou a conexão entre o colapso das antigas relações de parentesco com base na comunhão de propriedade e o surgimento da família individual como uma unidade econômica.
Com o desenvolvimento do Estado, a família monogâmica virou a família patriarcal, na qual o trabalho doméstico da mulher “tornou-se um serviço privado; a esposa virou a principal criada, excluída de toda participação na produção social”. Engels concluiu:
A destruição do direito materno foi a grande derrota histórica do sexo feminino.
O homem assumiu o comando também em casa; a mulher foi degradada e reduzida à servidão; tornou-se escrava do prazer do homem e mero instrumento de reprodução. [ 29 ]
Engels usou o termo Mutterrecht, daqui em diante chamado de
“direito materno”, derivado de Bachofen, para descrever as relações matrilineares de parentesco nas quais a propriedade dos homens não era passada a seus filhos, mas para os filhos de suas irmãs.
Também reconheceu o modelo de Bachofen de progressão
“histórica” na estrutura familiar, de casamento grupal a casamento monogâmico. Argumentou ainda que o casamento monogâmico foi visto pela mulher como uma melhoria de sua condição, uma vez que, assim, ela adquiriu “o direito de se entregar a apenas um homem”. Engels também chamou atenção para a institucionalização
da prostituição, que descreveu como um acessório indispensável para o casamento monogâmico.
As especulações de Engels sobre a natureza da sexualidade feminina foram criticadas como sendo o reflexo dos próprios valores vitorianos machistas, pela suposição não bem examinada de que os padrões de puritanismo feminino do século XIX pudessem explicar ações e atitudes das mulheres do começo da civilização. [ 30 ] Ainda assim, Engels fez contribuições importantes para nosso entendimento da posição das mulheres na sociedade e na história: (1) Ele apontou a ligação entre mudanças estruturais nas relações de parentesco, e mudanças na divisão do trabalho, por um lado, e a posição das mulheres na sociedade, por outro. (2) Mostrou a conexão entre instituição da propriedade privada, casamento monogâmico e prostituição. (3) Apresentou a relação entre a dominação política e econômica pelos homens e seu controle sobre a sexualidade feminina. (4) Determinando “a grande derrota histórica do sexo feminino” no período da formação de estados arcaicos, com base na dominação das elites donas de propriedades, deu historicidade ao evento. Embora não tenha conseguido provar nenhuma dessas afirmações, ele definiu as questões teóricas mais importantes dos cem anos seguintes. Também limitou a discussão da “questão da mulher” ao oferecer uma explicação convincente de causa única e direcionar a atenção a um só evento, que comparou a uma “destruição” revolucionária. Se a causa da “escravização” das mulheres foi o desenvolvimento da propriedade privada e das instituições que dela evoluíram, então, a lógica diz que a abolição da propriedade privada libertaria as mulheres. Seja como for, a maior parte da produção teórica sobre a questão da origem da
subordinação das mulheres teve como objetivo provar, melhorar ou refutar a obra de Engels.
As suposições básicas de Engels sobre a natureza dos sexos foram embasadas na aceitação de teorias evolutivas da biologia, mas seu grande mérito foi chamar atenção para o impacto de forças sociais e culturais na estruturação e definição das relações entre os sexos. Em paralelo a seu modelo de relações sociais, Engels desenvolveu a teoria evolutiva de relações entre os sexos, na qual o casamento monogâmico entre as classes trabalhadoras em uma sociedade socialista figurava como o ápice de seu desenvolvimento.
Assim, ao conectar as relações entre os sexos às mudanças nas relações sociais, ele rompeu com o determinismo biológico dos tradicionalistas. Chamando atenção para o conflito sexual forjado na instituição ao emergir das relações da propriedade privada, ele reforçou a conexão entre a mudança socioeconômica e o que hoje chamaríamos de relações entre gêneros. Definiu assim o casamento monogâmico formado na sociedade do início do Estado como a
“submissão de um sexo pelo outro, a proclamação de um conflito entre os sexos desconhecido por completo até então em épocas pré-históricas”. E acrescentou de forma significativa:
A primeira oposição de classes a aparecer na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e mulher em casamento monogâmico, e a primeira opressão de classes coincide com a do sexo feminino pelo sexo masculino. [ 31 ]
Essas afirmações ofereceram muitas possibilidades promissoras para a formação de teorias, sobre as quais falaremos mais adiante.
Mas a identificação, feita por Engels, da relação dos sexos como
“antagonismo de classes” foi um beco sem saída que, por muito tempo, impediu teóricos de entenderem corretamente as diferenças entre relações de classes e relações entre os sexos. Isso se deu pela insistência dos marxistas em que as questões referentes às relações entre os sexos fossem subordinadas às questões de relações entre classes, manifestadas não apenas em termos teóricos, mas como política prática, onde quer que tivessem poder para tanto. O novo conhecimento feminista começou apenas há pouco a forjar as ferramentas teóricas com as quais corrigir esses erros.
O antropólogo estruturalista Claude Lévi-Strauss também oferece uma explicação teórica na qual a subordinação das mulheres é crucial para a formação da cultura. Mas, ao contrário de Engels, Lévi-Strauss postula um único elemento fundamental com base no qual os homens construíram a cultura. Lévi-Strauss vê no tabu do incesto um mecanismo humano universal, que está na raiz de toda a organização social.
A proibição do incesto é menos uma regra que proíbe o casamento com a própria mãe, irmã ou filha do que uma regra que obrigue o oferecimento da mãe, irmã ou filha a outros. É a regra suprema da doação. [ 32 ]
A “troca de mulheres” é a primeira forma de comércio, na qual mulheres são transformadas em mercadoria e “coisificadas”, ou seja, consideradas mais coisas do que seres humanos. A troca de mulheres, de acordo com Lévi-Strauss, marca o começo da subordinação das mulheres. Isso, por sua vez, reforça uma divisão sexual do trabalho que institui a dominação masculina. Lévi-Strauss, contudo, vê o tabu do incesto como um passo adiante positivo e
necessário para a criação da cultura humana. Pequenas tribos autossuficientes precisaram se relacionar com tribos vizinhas em constante guerra ou encontrar uma maneira de coexistência pacífica. Os tabus sobre a endogamia e o incesto estruturaram interações pacíficas e originaram alianças entre tribos.
O antropólogo Gayle Rubin define com exatidão esse sistema de troca e seu impacto sobre as mulheres:
A troca de mulheres é um modo simples de expressar que as relações sociais do sistema de parentesco especificam que os homens têm certos direitos no parentesco com mulheres e que as mulheres não têm os mesmos direitos no parentesco com homens. [...] [É] um sistema no qual mulheres não têm plenos direitos para elas mesmas. [ 33 ]
Devemos observar que, na teoria de Lévi-Strauss, os homens são os atores que impõem um conjunto de estruturas e relações às mulheres. Tal explicação não pode ser considerada satisfatória.
Como isso aconteceu? Por que mulheres foram trocadas, e não homens ou crianças de ambos os sexos? Mesmo admitindo a utilidade funcional desse sistema, por que as mulheres teriam concordado com ele? [ 34 ] Exploraremos essas questões mais adiante, no próximo capítulo, em uma tentativa de construir uma hipótese praticável.
O impacto considerável de Lévi-Strauss sobre teóricas feministas resultou em uma mudança de atenção – da procura por origens econômicas para o estudo dos sistemas de símbolos e significados das sociedades. A obra mais influente nesse sentido foi o ensaio de Sherry Ortner de 1974, no qual ela argumentou de forma persuasiva que, em toda sociedade conhecida, as mulheres são consideradas
mais próximas da natureza do que da cultura. [ 35 ] Como toda cultura desvaloriza a natureza, uma vez que se esforça para dominá-la, as mulheres tornam-se símbolo de um ser de categoria inferior. Ortner mostrou que mulheres eram identificadas assim porque:
1. o corpo da mulher e sua função [...] parecem colocá-la mais próxima da natureza; 2. o corpo da mulher e suas funções a colocam em papéis sociais que, por sua vez, são considerados de categoria mais baixa no processo cultural em relação aos papéis do homem; e 3. os papéis tradicionais da mulher, impostos por causa de seu corpo e suas funções, dão a ela uma estrutura psíquica diferente [...], que [...] é considerada mais próxima da natureza. [ 36 ]
Esse breve ensaio provocou um debate longo e bastante informativo entre teóricas e antropólogas feministas, que ainda perdura. Ortner e quem concorda com ela argumentam com firmeza em prol da universalidade da subordinação feminina, se não em condições sociais reais, pelo menos nos sistemas de significado da sociedade. Opositores desse ponto de vista contestam a alegação de universalidade, criticam seu caráter a-histórico e rejeitam a posição das mulheres como vítimas passivas. Por fim, desafiam a anuência implícita de uma dicotomia imutável entre homens e mulheres na posição estruturalista feminista. [ 37 ]
Este não é o local para se abordar de maneira adequada a riqueza e a sofisticação desse debate feminista em andamento, mas a discussão sobre a universalidade da subordinação feminina já rendeu tantas explicações alternativas, que até aqueles que concordam estão cientes da deficiência de se colocar a questão assim. Fica cada vez mais claro, com o aprofundamento do debate,
que explicações de causa única e alegações de universalidade não responderão de maneira satisfatória à pergunta sobre as causas. O
grande mérito da posição funcionalista é revelar a insuficiência de explicações meramente econômicas, embora aqueles inclinados a enfatizar a biologia e a economia agora sejam forçados a lidar com o poder de sistemas de crenças, símbolos e construções mentais.
Sobretudo, a crença comum da maioria das feministas na construção de sociedades de gênero representa um desafio intelectual importantíssimo a explicações tradicionalistas.
Há outra posição teórica que merece profunda consideração, primeiro por ser feminista em foco e intenção, e também porque representa uma tradição histórica em pensamento sobre mulheres.
A teoria maternalista é alicerçada na aceitação das diferenças biológicas entre os sexos como fato. A maioria das feministas-maternalistas também considera inevitável a divisão sexual do trabalho alicerçada sobre essas diferenças biológicas, embora alguns pensadores recentes tenham revisado essa posição.
Maternalistas divergem categoricamente dos tradicionalistas por, com base nisso, argumentarem pela igualdade e até pela superioridade das mulheres.
A primeira teoria explicativa relevante criada sobre princípios maternalistas foi desenvolvida por J. J. Bachofen em seu livro bastante influente, Das Mutterrecht. [ 38 ] A obra de Bachofen influenciou Engels e Charlotte Perkins Gilman, e tem conceitos semelhantes aos de Elizabeth Cady Stanton. Um grande número de feministas do século XX aceitou seus dados etnográficos e sua análise de fontes literárias, usando-os para construir uma ampla gama de teorias. [ 39 ] As ideias de Bachofen também foram de grande influência para Robert Briffault, bem como para uma escola
de analistas e teóricos junguianos cuja obra teve grande apelo e aceitação popular nos Estados Unidos durante o século XX. [ 40 ]
A estrutura básica de Bachofen era evolucionista e darwinista; ele descreveu vários estágios na evolução da sociedade, seguindo de modo constante do barbarismo ao patriarcado moderno. A contribuição original de Bachofen foi a afirmação de que as mulheres de sociedades primitivas criaram cultura e que existiu um estágio de “matriarcado” que tirou a sociedade do barbarismo.
Bachofen fala de forma eloquente e poética sobre esse estágio: No estágio mais baixo e sombrio da existência humana, [o amor entre mãe-filhos era] a única luz sobre a escuridão moral. [...] Ao criar os filhos, a mulher aprende, antes que o homem, a estender seus cuidados afetuosos a outra criatura, além dos limites do ego. [...] Nesse estágio, a mulher é detentora de toda a cultura, de toda a benevolência, de toda a devoção, de toda a preocupação com os vivos e pesar pelos mortos. [ 41 ]
Apesar de seu alto apreço pelo papel das mulheres nesse passado obscuro, Bachofen considerava o predomínio do patriarcado na civilização ocidental um triunfo de ideias e organização políticas e religiosas superiores, que comparou negativamente com o desenvolvimento histórico na Ásia e na África.
Mas ele defendeu, assim como seus seguidores, a incorporação do
“princípio feminino” de cuidados e altruísmo na sociedade moderna.
Feministas norte-americanas do século XIX criaram uma teoria maternalista madura com base nem tanto na obra de Bachofen, mas na própria redefinição da doutrina patriarcal da “esfera específica da mulher”. Ainda assim, há grandes semelhanças entre o pensamento delas e as ideias de Bachofen sobre características “femininas”
positivas e inatas. Feministas do século XIX, tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra, consideravam as mulheres mais altruístas do que os homens devido a seus instintos maternais e à sua prática constante, e mais virtuosas por causa do desejo sexual supostamente mais fraco. Elas acreditavam que essas
características, que, diferente de Bachofen, atribuíam com frequência ao papel histórico de cuidadoras das mulheres, deram a elas uma missão especial: resgatar a sociedade da destruição, da competição e da violência criadas por homens em posição de dominância incontestada. Elizabeth Cady Stanton, em particular, desenvolveu uma argumentação que mesclava filosofia dos direitos naturais e nacionalismo norte-americano com maternalismo. [ 42 ]
Stanton escreveu em certa época que se redefiniam ideias tradicionalistas sobre gênero na jovem república norte-americana.
No período colonial dos Estados Unidos, tal como na Europa do século XVIII, as mulheres eram vistas como subordinadas e dependentes de seus parentes homens dentro da família, mesmo sendo consideradas, em especial nas colônias e em condições remotas, parceiras na vida econômica. Haviam sido excluídas do acesso à educação, da participação e do poder na vida pública.
Agora, com homens criando uma nova nação, eles atribuíram à mulher o novo papel de “mãe da república”, responsável pela criação dos cidadãos homens que conduziriam a sociedade. As mulheres republicanas agora seriam soberanas na esfera doméstica, ao mesmo tempo que os homens reivindicavam com firmeza a esfera pública, inclusive a vida econômica, como seu domínio exclusivo. Esferas específicas determinadas pelo sexo, como definidas no “culto à verdadeira mulheridade”, tornaram-se a ideologia predominante. Enquanto os homens institucionalizavam
sua dominância na economia, na educação e na política, as mulheres eram encorajadas a se adaptar a seu status de subordinação por uma ideologia que deu à função materna um significado superior. [ 43 ]
Nas décadas iniciais do século XIX, as mulheres norte-americanas, na prática e no pensamento, redefiniram por conta própria a posição que deveriam ocupar na sociedade. Embora as primeiras feministas aceitassem como fato a existência de esferas específicas,
transformaram
o
significado
desse
conceito
argumentando em prol do direito e do dever da mulher de participar da esfera pública devido à superioridade de seus valores e à força incorporada a seu papel materno. Stanton transformou a doutrina da
“esfera específica” em um debate feminista ao argumentar que as mulheres tinham direito à igualdade por serem cidadãs, logo, possuíam os mesmos direitos naturais que os homens, e também porque, como mães, tinham mais condições que os homens de melhorar a sociedade.
Argumento feminista-maternalista semelhante foi demonstrado mais tarde na ideologia do movimento pelo sufrágio e na dos reformistas que defendiam, com Jane Addams, que o trabalho das mulheres se estendia à “administração interna municipal”. É curioso notar que feministas-maternalistas modernas argumentavam de maneira similar, embasando suas ideias em dados psicológicos e nas evidências da experiência histórica das mulheres como alheias ao poder político. Dorothy Dinnerstein, Mary O’Brien e Adrienne Rich são as últimas de uma longa linhagem de maternalistas. [ 44 ]
Por terem aceitado as diferenças sexuais biológicas como determinantes, as maternalistas do século XIX não estavam tão preocupadas com a questão das origens quanto suas seguidoras do
século XXI. Mas desde o começo, com Bachofen, a negação da universalidade da subordinação feminina estava implícita na posição evolutiva maternalista. Existira um modelo alternativo de organização social humana antes do patriarcado, afirmavam as maternalistas. Assim, a busca pelo matriarcado era fundamental para o pensamento delas. Se pudessem encontrar evidências da existência de sociedades matriarcais em qualquer lugar e época, a reivindicação das mulheres por igualdade e uma parte do poder obteria grande respeito e aprovação. Até há pouco tempo, tais evidências, conforme encontradas, consistiam de uma combinação de arqueologia, mito, religião e artefatos de significados dúbios, unidas por especulação. Central à defesa do matriarcado estavam as evidências onipresentes de figuras de Deusas-Mães em muitas religiões antigas, com base nas quais maternalistas argumentavam em prol da existência do poder feminino no passado. Discutiremos em mais detalhes a evolução das Deusas-Mães no Capítulo Sete; neste momento, precisamos apenas enfatizar a dificuldade de se concluir com base em tais evidências a favor da construção de organizações sociais nas quais as mulheres eram dominantes. Em vista das evidências históricas de coexistência da idolatria simbólica de mulheres com seu baixo status real – tais como o culto à Virgem Maria na Idade Média, o culto à senhora da plantação nos Estados Unidos antes da Guerra Civil, ou o culto a estrelas de Hollywood na sociedade contemporânea –, hesita-se em elevar essas evidências ao status de prova histórica.
As evidências etnográficas que embasaram os argumentos de Bachofen e Engels foram bastante refutadas por antropólogos modernos – evidências que, da forma como foram unidas, mostraram-se não de “matriarcado”, mas de matrilocalidade e
matrilinearidade. Ao contrário do que se acreditava antes, não é possível demonstrar uma conexão entre as estruturas de parentesco e a posição social da mulher. Na maioria das sociedades matrilineares, é um parente homem, em geral o irmão ou tio da mulher, quem controla as decisões econômicas e familiares. [ 45 ]
Existe agora um grande conjunto de evidências antropológicas modernas
disponíveis
que
descrevem
sistemas
sociais
relativamente igualitários e soluções variadas e complexas adotadas por sociedades para o problema da divisão de trabalho. [ 46 ] A literatura baseia-se muito em sociedades tribais modernas, com poucos exemplos do século XIX. Isso levanta a questão, em particular para historiadores, quanto à validade dessas informações para generalizações sobre povos pré-históricos. De qualquer forma, com base nos dados disponíveis, parece que as sociedades mais igualitárias são encontradas entre tribos de caçadores-coletores, caracterizadas pela interdependência econômica. Uma mulher deve contar com os serviços de um caçador para garantir o fornecimento de carne para si mesma e seus filhos. Um caçador deve contar com uma mulher que o alimentará com comida que o sustente para ir à caça e ainda mais, no caso de ser malsucedido. Como observamos antes, nessas sociedades, as mulheres fornecem a maior parte do alimento consumido, mas o produto da caça é considerado o alimento mais valioso e usado em troca de presentes. Essas tribos de caçadores-coletores evidenciam a cooperação econômica e tendem a viver em paz com outras tribos. A competição é ritualizada em torneios de canto ou atletismo, mas não encorajada na vida cotidiana. Como de costume, as interpretações de acadêmicos da área são divergentes, mas uma avaliação mais completa das evidências permite a generalização de que, nessas sociedades, o
status relativo de homens e mulheres é “separado, porém similar”. [
Existe uma polêmica considerável entre antropólogos sobre como categorizar qualquer tipo de sociedade. Muitas antropólogas e autoras feministas interpretaram complementaridade ou até ausência nítida de dominância masculina como prova de igualitarismo ou mesmo de dominância feminina. Assim, Eleanor Leacock descreve o alto status de mulheres iroquesas, em particular antes da invasão europeia: o poderoso papel público de controlar a distribuição de alimentos e a participação no Conselho de Anciãos.
Leacock interpreta esses fatos como evidências de “matriarcado”, definindo o termo como uma sociedade em que “mulheres tinham autoridade pública em áreas importantes da vida em grupo”. [ 48 ]
Outros antropólogos, observando os mesmos dados e
reconhecendo o status relativamente alto e a posição de poder de mulheres iroquesas, concentram-se no fato de que elas nunca eram líderes políticas da tribo nem comandantes. Também pontuam a singularidade da situação dos iroqueses, com base na abundância de recursos naturais disponíveis em seu ambiente. [ 49 ] Deve-se observar ainda que, em todas as sociedades de caçadores-coletores, não importando o status social e econômico das mulheres, estas sempre eram subordinadas aos homens em alguns aspectos. Não existe uma só sociedade conhecida na qual
“mulheres como grupo” tivessem poder de decisão sobre os homens ou definissem as regras de conduta sexual, ou mesmo controlassem as transações de casamento.
É em sociedades de horticultura que encontramos com mais frequência mulheres dominantes ou bastante influentes na esfera econômica. Em uma pesquisa por amostragem realizada em 515
sociedades de horticultura, as mulheres dominam as atividades de cultivo em 41% dos casos, mas, historicamente, essas sociedades caminham em direção ao assentamento residencial e à agricultura de arado, cuja vida econômica e política os homens dominam. [ 50 ]
A maioria das sociedades de horticultura estudadas era patrilinear, apesar do papel econômico decisivo das mulheres. Sociedades de horticultura matrilineares parecem ocorrer sobretudo em determinadas condições ecológicas – perto de limiares de florestas, onde não existem rebanhos de animais domesticados. Como tais hábitats estão desaparecendo, as sociedades matrilineares estão quase extintas.
Ao resumirmos os achados referentes à dominância feminina, podemos pontuar: (1) A maioria das evidências de igualdade entre os sexos nas sociedades deriva de sociedades matrilineares e matrilocais, que são historicamente temporárias e estão desaparecendo. (2) Embora a matrilinearidade e a matrilocalidade confiram certos direitos e privilégios às mulheres, o poder de decisão dentro das relações de parentesco é dos homens mais velhos. (3) Origem patrilinear não implica subjugação de mulheres, tampouco origem matrilinear indica matriarcado. (4) Observadas ao longo do tempo, as sociedades matrilineares não conseguiram se adaptar a sistemas competitivos, exploradores e técnico-econômicos, sendo substituídas por sociedades patrilineares.
A universalidade do matriarcado pré-histórico parece nitidamente contrariada por evidências antropológicas. Mas o debate sobre o matriarcado continua, em grande parte porque defensores da teoria do matriarcado definiram o termo de forma vaga o suficiente para incluí-lo em várias outras categorias. Aqueles que definem matriarcado como uma sociedade na qual mulheres dominam os
homens, uma espécie de patriarcado às avessas, não conseguem citar provas antropológicas, etnológicas ou históricas. Sustentam a teoria com evidências que se baseiam em mito e religião. [ 51 ]
Outros chamam de matriarcado qualquer sistema social em que as mulheres tenham controle sobre algum aspecto da vida pública.