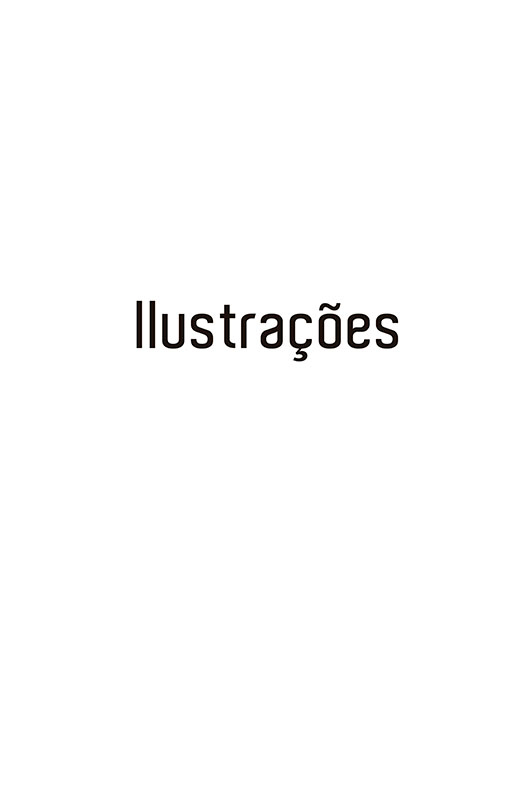
Monro, Margaret T. Thinking About Genesis. Chicago: Henry Regnery, 1966; Londres: Longmans, Green, 1953.
Negev, Abraham. Archeological Encyclopedia of the Holy Land. Nova York: Putnam, 1972.
Ochs, Carol. Behind the Sex of God: Toward a New Consciousness –
Transcending Matriarchy and Patriarchy. Boston: Beacon Press, 1977.
Ochshorn, Judith. The Female Experience and the Nature of the Divine.
Bloomington: Indiana University Press, 1981.
Otwel , John. And Sarah Laughed: The Status of Women in the Old Testament.
Filadélfia: Westminster Press, 1977.
Pagels, Elaine. The Gnostic Gospels. Nova York: Random House, 1979.
Ruether, Rosemary Radford (org.). Religion and Sexism: Images of Woman in the Jewish and Christian Traditions. Nova York: Simon Schuster, 1974.
Saggs, H. W. F. The Encounter with the Divine in Mesopotamia and Israel.
Londres: Athlone Press, 1978.
Sarna, Nahum M. Understanding Genesis. Nova York: McGraw-Hil , 1966.
Smith, W. Robertson. Kinship and Marriage in Early Arabia (1903); reimpressão.
Boston: Beacon Press, s.d.
Speiser, E. A. Genesis. Garden City, NY: Doubleday, 1964.
Stone, Merlin. Ancient Mirrors of Womanhood. Vol. I, Our Goddess and Heroine Heritage. Nova York: New Sibyl ine Books, 1979.
_____. When God Was a Woman. Nova York: Harcourt Brace Jovanovich, 1976.
Teubal, Savina J. Sarah the Priestess: The First Matriarch of Genesis. Athens, Ohio: Swal ow Press, 1984.
Von Rad, Gerhard. Genesis: A Commentary. Filadélfia: Westminster Press, 1961.
(Tradução da edição alemã de 1956.)
Wel hausen, Julius. Prolegomena to the History of Ancient Israel. Nova York: Meridian Books, 1965.
Ungnad, Arthur. Die Religion der Babylonier und Assyrer. Jena: E. Diderichs, 1921.
Artigos
Farians, Elizabeth. “Phal ic Worship The Ultimate Idolatry”. Em J. Plaskow e Joan Arnold (orgs.). Women and Religion. Ed. rev. Missoula, MT: Scholars Press, American Academy of Religion, 1974.
Fox, Michael V. “The Sign of the Covenant: Circumcision in the Light of the Priestly
‘ôt’ Etiologies”. La Revue Biblique, vol. 81 (1974), pp. 557-96.
Freedman, R. David. “Woman, a Power Equal to Man”. Biblical Archaeology Review, vol. 9, nº 1 (Janeiro-Fevereiro de 1983), pp. 56-8.
Frymer-Kensky, Tikva. “Patriarchal Family Relationships and Near Eastern Law”.
Biblical Archaeologist, vol. 44, nº 4 (Outono de 1981), pp. 209-14.
Greenberg, Moshe. “Another Look at Rachel’s Theft of the Terraphim”. Journal of Biblical Literature, vol. 81 (1962), pp. 239-48.
Horowitz, Maryanne Cline. “The Image of God in Man – Is Woman Included?”.
Harvard Theological Review, vol. 72, nos 3-4 (Julho-Outubro de 1979), pp. 175-206.
Kikawada, I. M. “Two Notes on Eve”. Journal of Biblical Literature, vol. 91 (1972), pp. 33-7.
Lemaire, André. “Mari, the Bible, and the Northwest Semitic World”. Biblical Archaeologist, vol. 47, nº 2 (Junho de 1984), pp. 101-8.
_____. “Who or What Was Yahweh’s Asherah? Startling New Inscriptions from Two Different Sites Reopen the Debate about the Meaning of Asherah”. Biblical Archaeology, vol. 10, nº 6 (Novembro-Dezembro de 1984), pp. 42-52.
Malamat, A. “Mari and the Bible: Some Patterns of Tribal Organization and Institutions”. Journal of the American Oriental Society, vol. 82, nº 2 (Abril-Junho de 1962), pp. 143-49.
Mendenhal , G. “Ancient Oriental and Biblical Law”. Biblical Archaeologist, vol. 17
(1954), pp. 26-46.
Mendenhal , G. E. “Covenant Forms in Israelite Tradition”. Biblical Archaeologist, vol. 17 (1954), pp. 50-76.
Meyers, Carol. “The Roots of Restriction: Women in Early Israel”. Biblical Archaeologist, vol. 41, nº 3 (Setembro de 1973), pp. 91-103.
Meyers, Eric M. “The Bible and Archaeology”. Biblical Archaeologist, vol. 47, nº 1
(Março de 1984), pp. 36-40.
Morrison, Martha A. “The Jacobs and Laban Narratives in Light of Near Eastern Sources”. Biblical Archaeologist, vol. 46, nº 3 (Verão de 1983), pp. 155-64.
Pardee, Dennis e Jonathan Glass. “Literary Sources for the History of Palestine and Syria: The Mari Archives”. Biblical Archaeologist, vol. 47, nº 2 (Junho de 1984), pp. 88-100.
Segel, M. H. “The Religion of Israel Before Sinai”. Jewish Quarterly Review, vol.
52 (1961-1962), pp. 41-68.
Speiser, E. A. “The Biblical Idea of History in Its Common Near Eastern Setting”.
Israel Exploration Journal, vol. 7, nº 4 (1957), pp. 201-16.
_____. “3000 Years of Bible Study”. The Centennial Review, vol. 41 (1960), pp.
206-22.
Tadmor, Miriam. “Female Cult Figurines in Late Canaan and Early Israel: Archeological Evidence”. Em Tomoo Ishida (org.). Studies in the Period of David and Solomon and other Essays. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1982, pp. 139-73.
Trible, Phyl is. “The Creation of a Feminist Theology”. New York Times Book Review, vol. 88 (1º de maio de 1983), pp. 28-9.
_____. “Depatriarchalizing in Biblical Interpretation”. Journal of the American Academy of Religion, vol. 41, nº 1 (Março de 1973), pp. 30-48.
VI. GRÉCIA ANTIGA
Fontes Primárias
Livros
Aristóteles, Politica. Benjamin Jowett (trad.). The Works of Aristotle. W. D. Ross (org.). Oxford: Clarendon Press, 1921.
_____. Platão, The Republic. Benjamin Jowett (trad.). Nova York: Random House, s.d.
The Iliad of Homer. Richmond Lattimore (trad.). Chicago: University of Chicago Press, 1937.
_____. The Odyssey of Homer. Richmond Lattimore (trad.). Londres: Macmil an, 1975.
Euripides. Robert W. Cirrigan (trad.). Nova York: Del , 1965.
Lefkowitz, Mary R. e Maureen B. Fant. Women’s Life in Greece and Rome: A Sourcebook in Translation. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982.
Herodotus, Historia. Trad. A. D. Godley. Loeb Classical Library. Cambridge: Harvard University Press, 1920.
The Odyssey of Homer. S. H. Butcher (trad.). Londres: Macmil an, 1917.
The Works of Aristotle. J. A. Smith e W. D. Ross (trad.). Oxford: Clarendon Press, 1912.
Thucydides, History of Peloponnesian War. 4 vols. Trad. Charles F. Smith.
Cambridge: Harvard University Press, 1920.
Obras Secundárias
Livros
Bruns, Ivo, Frauenemanzipation in Athen, ein Beitrag zur attischen Kulturgeschichte des fünften und vierten Jahrhunderts. Kiliae: Libraria Academica, 1900.
Ehrenberg, Victor. From Solon to Socrates: Greek History and Civilization During the 6th and 5th Centuries B.C. Londres: Methuen, 1973.
_____. The People of Aristophanes: A Sociology of Old Attic Comedy. Oxford: Basil Blackwel , 1951.
Foley, Helen (org.). Reflections of Women in Antiquity. Nova York: Gordon & Breach Science Publications, 1981.
Graves, Robert. The Greek Myths. 2 vols. Nova York: George Brazil er, 1959.
Humphreys, S. C. The Family, Women and Death: Comparative Studies. Londres: Routledge & Kegan Paul, 1983.
Marrou, H. I. A History of Education in Antiquity. Nova York, 1956.
McNeil, Wil iam H. The Rise of the West: A History of the Human Community.
Chicago: University of Chicago Press, 1963.
Peradotto, J. e J. P. Sul ivan. Women in the Ancient World: The Arethusa Papers.
Albany: S.U.N.Y. Press, 1984.
Pomeroy, Sarah B. Goddesses, Whores, Wives, and Slaves: Women in Classical Antiquity. Nova York: Schocken, 1975.
Sealey, Raphael. A History of the Greek City States: 700-338 B.C. Berkeley: University of California Press, 1976.
Selfman, Charles. Women in Antiquity. Londres: Thames & Hudson, 1936.
Shorey, Paul. What Plato Said. Chicago: University of Chicago Press, 1933.
Taylor, Alfred E. Plato: The Man and His Work. Londres: Methuen, 1926.
Thomson, George. Aeschylus and Athens: A Study in the Social Origins of Drama.
Londres: Lawrence and Wishart, 1941.
Winspear, Alban D. Genesis of Plato’s Thought. Nova York: Dryden, 1940.
Reimpressão por Russel & Russel .
Artigos
Arthur, Marylin B. “Origins of the Western Attitude Toward Women”. Em John Peradatto e J. P. Sul ivan (orgs.). Women in the Ancient World: The Arethusa Papers. Albany, 1984, pp. 31-7.
Dover, K. J. “Classical Greek Attitudes to Sexual Behavior”. Arethuda, vol. 6, nº 1
(1973), pp. 59-73.
Gomme, A. M. “The Position of Women in Athens in the Fifth and Fourth Centuries”. Classical Philology, vol. 20, nº 1 (Janeiro de 1925), pp. 1-25.
Havelock, Christine Mitchel . “Mourners on Greek Vaes: Remarks on the Social History of Women”. Em The Greel Vases: Papers based on lectures presented to a symposium at Hudson Val ey Community Col ege at Troy, New York, un April of 1979, org. Stephen L. Hyatt. Latham, NY: Hudson-Mohawk Association of Col eges and Universities, 1981, pp. 103-18.
Horowitz, Maryanne Cline. “Aristotle and Woman”. Journal of the History of Biology, vol. 9, nº 2 (Outono de 1976), pp. 183-213.
Pomeroy, Sarah B. “Selected Bibliography on Women in Antiquity”. Arethusa, vol.
6 (1973), pp. 127-57.
Richter, Donald. “The Position of Women in Classical Athens”. Classical Journal, vol. 67, nº 1 (1971), pp. 1-8.
Warren, Larissa Bonfante. “The Women of Etruria”. Arethusa, vol. 6, nº 1
(Primavera de 1973), pp. 91-101.
Zeitlin, Froma I. “Travesties of Gender and Genre in Aristophanes’
Thesomorporiazousae”. Em Reflections of Women in Antiquity, ed. Helene Foley.
Nova York: Gordon & Breach Science Publi.cations, 1981.
VII. ARTE
Akurgal, Ekrem. The Art of the Hittites. Nova York: Harry N. Abrams, 1962.
Amiet, Pierre. Art of the Ancient Near East. Nova York: Harry N. Abrams, 1980.
Bittel, Kurt. Die Hethiter: die Kunst Anatoliens von Ende des 3 bis zum Anfang des 1. Jahrtausends, vor Christus. Munique: Beck, 1976.
Broude, Norma e Mary D. Garrard. Feminism and Art History: Questioning the Litany. Nova York: Harper & Row, 1982.
Goldscheider, Ludwig. Michelangelo. Londres: Phaidon, 1959.
Moortgat, Anton. Die Kunst des alten Mesopotamien; Die klassiche Kunst Vorderasiens. 2 vols. Colônia: Dumont, 1982, 1984.
Parrot, André. Sumer: The Dawn of Art. Nova York: Golden Press, 1961.
Seibert, Ilse. Woman in Ancient Near East. Leipzig: Edition Leipzig, 1974.
Strommenger, E. e M. Hurmer. The Art of Mesopotamia. Londres: Thames & Hudson, 1964.
Strommenger, Eva. 5000 Years of Mesopotamian Art. Nova York: Harry N.
Abrams, 1962.
Diversas representações das principais imagens de deusas são mostradas nas Ilustrações 1 a 13, desde as primeiras deusas da fertilidade até a poderosa e multifacetada Inanna/Ishtar.
As Ilustrações 6 e 7 representam uma cerimônia, provavelmente um festival religioso no qual o produto dos campos e dos rebanhos é oferecido à deusa e à sua sacerdotisa. A fertilidade dos campos e dos rebanhos é representada pelas imagens na última fileira do Vaso de Uruk. Observe a diferença entre o status da sacerdotisa, que está total e formalmente vestida, e o daqueles que fazem as oferendas, que estão nus.
A Ilustração 8 mostra a deusa com sua insígnia entre os outros deuses.
A Ilustração 10 mostra a deusa dando sua bênção e proteção aos dignatários adoradores e aos reis. O poder da realeza, portanto, é representado de modo simbólico como proveniente da bênção e da proteção da deusa.
A Ilustração 11 mostra a deusa Ishtar como uma guerreira, vestindo a indumentária dos guerreiros e pisando em um leão. Observe, no último selo cilíndrico, a associação da deusa com a árvore frutífera.
A Ilustração 12 mostra o soberano de Larsa, Gudea, segurando um recipiente de onde jorra água, como um símbolo de seu poder em tornar a terra fértil. Uma representação um pouco posterior do palácio do rei Zimri-Lim de Mari na Ilustração 13 mostra a deusa em uma pose idêntica, segurando um recipiente parecido. Como pode
se observar pela vista lateral, a estátua oca podia ser preenchida com água pela parte de trás e, no momento certo, a água jorraria
“de forma milagrosa”. Embora não possamos demonstrar aqui um desenvolvimento sequencial por meio de representações pictóricas, sabemos, por meio de orações e hinos, que o poder da deusa de fazer a água jorrar e tornar a terra fértil já era celebrado séculos antes de os soberanos se apropriarem simbolicamente dele.
1. Mulher nua. Ídolo de fertilidade. Susa, meados do segundo milênio a.C. (Paris, Louvre).
2. Estatuetas de mulheres. Colocadas em túmulos em Tell es-Sawwan, perto de Samarra, na porção central do
rio Tigre, por volta de 5800 a.C. (Bagdá, Museu do Iraque).
3. Deusa-Mãe dando à luz. Çatal Hüyük.
4. Deusa Bau. Fragmento da Estela de Gudea. Lagash, por volta de 2200 a.C. (Paris, Louvre).
5. Cabeça de mulher de Uruk. Período inicial da Suméria, por volta de 3250 a.C. (Bagdá, Museu do Iraque).
6. Vaso de alabastro de Uruk. Período inicial da Suméria (Bagdá, Museu do Iraque).
7. Detalhe de vaso de Uruk (Bagdá, Museu do Iraque).
8. Selo cilíndrico do escriba Adda. Grandes deuses na manhã do Ano Novo. Período de Agade (Londres, Museu Britânico. Cortesia do Conselho de Administração do Museu Britânico).
9. Selo cilíndrico. Período de Ur III/Isin, por volta de 2255-2040 a.C.
(Londres, Museu Britânico. Cortesia do Conselho de Administração do Museu Britânico).
10. A deusa Ishtar conduzindo um rei pela mão. Por volta de 1700
a.C. (Friedrich-Schiller-Universität, Jena-DDR).
11. A deusa Ishtar com o pé sobre um leão. Selo cilíndrico assírio, 750-650 a.C. (Londres, Museu Britânico. Cortesia do Conselho de Administração do Museu Britânico).
12. Gudea com vaso jorrando. Telloh, por volta de 2200 a.C. (Paris, Louvre).
13. Deusa com regador. Palácio do rei Zimri-Lim de Mari, por volta de 2040-1870 a.C. (Hirmer Verlag).
As Ilustrações 14 e 15 mostram mulheres adoradoras do terceiro milênio a.C. A expressão digna e forte do corpo e do rosto delas bem como os semblantes individualizados são extraordinários.
Essas mulheres são representadas com dignidade e apresentam características pessoais que, por não serem personalidades da realeza, podem indicar uma atitude respeitosa de modo geral em relação às mulheres na sociedade. Na arte europeia, após a Antiguidade
clássica,
não
encontraremos
representações
individualizadas de pessoas de classe baixa até o início da Renascença.
A Ilustração 16 vem da Anatólia e mostra uma mulher fiando (mãe) e seu filho menino, que segura uma ferramenta de escrita. Em relevo semelhante do mesmo período e local, não mostrado aqui, vemos uma mulher sentada e segurando uma criança no colo, e a criança, por sua vez, segura uma tábua e um falcão. Nessa representação, a pose e a expressão da mulher deixam claro que ela é a mãe do menino. Essas imagens indicam quanto as coisas mudaram em relação a um período anterior, quando tanto mulheres quanto homens eram escribas a serviço dos templos. Agora, a mulher pode se orgulhar do filho instruído, enquanto segue com suas habilidades femininas de tecelã.
Identifica-se a Ilustração 17 como um hierodulo da deusa Astarte.
Como seu rosto está descoberto em público, e ela mostra sua figura na janela aberta de um edifício, considera-se que represente uma prostituta ou talvez uma serva sexual religiosa. O fato de essa representação fazer parte de um móvel, a saber, uma cabeceira de cama, enfatiza seu significado sexual implícito.
As Ilustrações 18 a 23 mostram várias representações da Árvore da Vida. Foram dispostas em ordem cronológica e vêm de diferentes lugares. Devemos notar a associação da árvore com criaturas mitológicas (Ilustrações 18 a 20). Nas Ilustrações 20 e 21, é evidente que as figuras representam guerreiros, sendo um deles possivelmente o rei.
Nas Ilustrações 18 a 21, vemos o símbolo da Árvore da Vida como figura central da composição. Reis, servos ou várias criaturas mitológicas são mostrados regando ou polinizando a árvore. O fato de esse símbolo ser fundamental para a arte palaciana e de também aparecer nos selos cilíndricos indicaria seu grande uso e reconhecimento. Quanto mais tardio o período, mais o símbolo parece dissociado da representação realista da árvore ou planta e de sua relação com o símbolo da água, que representa a criação da vida. Nas Ilustrações 19 e 21, que vêm do palácio do rei Assurnasirpal II da Assíria, podemos observar que o símbolo é apresentado em sua forma mais estilizada e decorativa. O fato de, nesse palácio, que é extraordinariamente decorado com relevos que retratam sobretudo perseguições, como luta e conquista, e caça ao leão, o rei ser mostrado cuidando e fertilizando a Árvore da Vida acrescenta significado ao símbolo. Note o gesto de todas as figuras masculinas do relevo apontando para a árvore (Ilustrações 20 e 21) e o pássaro alado, que representa o poder divino, pairando sobre a árvore. Interpretamos isso como uma representação simbólica do poder de criação da vida, agora firme e enfim nas mãos do rei, e não nas da deusa.
A Ilustração 22, de um grande relevo do palácio do rei Assurnasirpal II da Assíria, mostra o banquete da vitória do rei. É digna de nota porque apresenta a rainha como participante ativa de uma cerimônia pública. Há vários servos e artistas, tanto homens como mulheres, em evidência. A Árvore da Vida, com seu símbolo de fertilidade, a tâmara ou a romã, é mostrada em destaque.
A Ilustração 23 mostra o rei Xerxes entronizado e seus servos, séquito e porta-estandartes. Na mão direita erguida segura uma flor (detalhe, Ilustração 24). É uma flor simbólica, que já vimos antes, relacionada à Árvore da Vida.
As Ilustrações 25, 26 e 27 representam partes do teto da Capela Sistina de Michelangelo e retratam a história da Criação do Homem e da Mulher, bem como a história da Queda. O poder de gerar vida agora é representado pelo Deus patriarcal de barba, o Pai. A árvore passou a ser a árvore do fruto proibido. Aquela que promove tentações é a serpente, há muito associada com a deusa. As imagens poderosas de Michelangelo representam com mais clareza as metáforas relacionadas ao sexo que aparecem mais na tradição judaico-cristã do que em glossários e outros textos explicativos.
Adonai pode não ter sexo e ser invisível, mas no imaginário popular ele é o Deus-Pai barbudo criador da vida. E o primeiro mandamento para a mulher caída é que deverá haver inimizade entre ela e a serpente.
14. Mulher em oração de Khafaje, terceiro milênio a.C. (Bagdá, Museu do Iraque).
15. Estatueta de mulher em adoração, por volta de 2900-2460 a.C.
(Londres, Museu Britânico. Cortesia do Conselho de Administração do Museu Britânico).
16. Mulher fiando com escriba. De um túmulo em Marash, séculos VIII a VII a.C. (Adana, Museu).
17. Hierodula de Astarte. Nimrud, palácio de Assurnasirpal II (importado da Fenícia), por volta do século VIII a.C. (Londres, Museu Britânico. Cortesia do Conselho de Administração do Museu Britânico).
18. Selo cilíndrico, Porada 609. Gênio-pássaro apanha um cacho de tâmaras da árvore, por volta de 1200 a.C. (Nova York, Morgan Library. Cortesia do Conselho de Administração da The Pierpont Morgan Library).
19. Gênio com cabeça de águia em pé diante de uma palmeira.
Nimrud, palácio do rei Assurnasirpal II, por volta de 883-859 a.C.
(Paris, Louvre).
20. Selo de Mushezib-Ninurta. Tell Arban, norte da Síria, por volta de 850 a.C. (Londres, Museu Britânico. Cortesia do Conselho de Administração do Museu Britânico).
21. Rei Assurnasirpal II com um deus alado adorando a árvore sagrada. Nimrud, palácio do rei Assurnasirpal II, 883-859 a.C.
(Londres, Museu Britânico. Cortesia do Conselho de Administração do Museu Britânico).
22. Celebração da vitória do rei Assurnasirpal e da rainha Assur-sharrat (Londres, Museu Britânico. Cortesia do Conselho de Administração do Museu Britânico).
23. Página ao lado, acima. Rei Xerxes entronizado (Persépolis, Museu de Teerã).
24. Página ao lado, embaixo. Detalhe da flor (Persépolis, Museu de Teerã).
25. Página ao lado, acima. Michelangelo, A Criação do Homem (Capela Sistina. Alinari/TopFoto/AGB Photo Library).
26. Página ao lado, embaixo. Michelangelo, A Criação da Mulher (Capela Sistina. Alinari/TopFoto/AGB Photo Library).
27. Michelangelo, A Queda do Homem e a Expulsão do Jardim do Éden (Capela Sistina. Alinari/TopFoto/AGB Photo Library).
[ 1 ] Tal como a autora indica no texto, sua ideia geral era escrever um livro único mostrando como ocorreu, em termos históricos, o surgimento/ascensão da consciência feminista – que seria publicado somente em 1993, com o título The Creation of Feminist Consciousness: From the Middle Ages to Eighteen-seventy.
Entretanto, havia muito material sobre o surgimento das primeiras civilizações e as origens do sistema político do patriarcado. Assim, ela dividiu suas pesquisas em dois volumes, sendo este livro, A Criação do Patriarcado, o primeiro, e The Creation of Feminist Consciousness, o segundo, que podem ser lidos como uma obra única ( Women and History). (N. E.)
[ 2 ] Jonathan Glass, “The Problem of Chronology in Ancient Mesopotamia” [O
Problema da Chronologia na Antiga Mesopotâmia], Biblical Archeologist, v. 47, n.
2 (junho de 1984), p. 92.
[ 3 ] Para enfatizar a diferença, escreverei “história”, o passado não registrado, com inicial minúscula, e “História”, o passado registrado e interpretado, com inicial maiúscula.
[ 4 ] Sexo é o fato biológico de homens e mulheres. Gênero é a definição cultural de comportamento definido como apropriado aos sexos em determinada sociedade de uma época específica. Gênero é um conjunto de papéis culturais; portanto, é um produto cultural que varia ao longo do tempo. (Recomenda-se que o leitor consulte as seções sexo e gênero em Definições, pp. 281-94.)
[ 5 ] Ver nota na p. 9. (N. R.)
[ 6 ] Joan Kel y, “The Doubled Vision of Feminist Theory: A Postscript to the
“Women and Power” Conference”, Feminist Studies, vol. 5, nº 1 (Primavera de 1979), pp. 221-22.
[ 7 ] Ver Capítulos Dez e Onze para uma discussão detalhada dessa posição.
[ 8 ] Ver, por exemplo, George P. Murdock, Our Primitive Contemporaries (Nova York, 1934); R. R. Lee e Irven De Vore (orgs.), Man, the Hunter (Chicago, 1968).
Margaret Mead, Male and Female (Nova York, 1949), embora abra um novo caminho ao demonstrar a existência de grandes variações nos comportamentos
sociais relacionados aos papéis de gênero, aceita a universalidade da assimetria sexual.
[ 9 ] Ver Lionel Tiger, Men in Groups (Nova York, 1970), cap. 3; Robert Ardrey, The Territorial Imperative: A Personal Inquiry into the Animal Origins of Property and Nations (Nova York, 1966); Alison Jol y, The Evolution of Primate Behavior (Nova York, 1972); Marshal Sahlins, “The Origins of Society”, Scientific American, vol.
203, nº 48 (Setembro de 1960), pp. 76-87.
Para uma explicação centrada no sexo masculino, que avalia os homens negativamente e os culpa por seus impulsos agressivos no desenvolvimento de guerras e na subordinação das mulheres, ver Marvin Harris, “Why Men Dominate Women”, Columbia (Verão de 1978), pp. 9-13, 39.
[ 10 ] Simone de Beauvoir, The Second Sex (Nova York, 1953; reimpressão de 1974), pp. xxxi i-xxxiv.
[ 11 ] Peter Farb, Humankind (Boston, 1978), cap. 5; Sal y Slocum, “Woman the Gatherer: Male Bias in Anthropology”, em Rayna R. Reiter, Toward an Anthropology of Women (Nova York, 1975), pp. 36-50. Para um ponto de vista interessante que revisita Slocum, ver Michel e Z. Rosaldo, “The Use and Abuse of Anthropology: Reflections on Feminism and Cross-Cultural Understanding”, SIGNS, vol. 5, nº 3 (Primavera de 1980), pp. 412-13, 213.
[ 12 ] Michel e Zimbalist Rosaldo e Louise Lamphere, “Introduction”, em M. Z.
Rosaldo e L. Lamphere, Woman, Culture and Society (Stanford, 1974), p. 3. Para uma discussão mais ampla, ver Rosaldo, “A Theoretical Overview”, ibid. , pp. 16-42; L. Lamphere, “Strategies, Cooperation, and Conflict Among Women in Domestic Groups”, ibid. , pp. 97-112. Ver também Slocum em Reinter, Anthropology of Women, pp. 36-50, e os artigos de Patricia Draper e Judith K.
Brown, também em Reiter.
Para um exemplo de complementaridade dos sexos, ver Irene Silverblatt,
“Andean Women in the Inca Empire”, Feminist Studies, vol. 4, nº 3 (Outubro de 1978), pp. 37-61.
Uma análise abrangente da literatura sobre essa questão e uma interpretação interessante dela podem ser encontradas em Peggy Reeves Sanday, Female Power and Male Dominance: On the Origins of Sexual Inequality (Cambridge, Ingl., 1981).
[ 13 ] M. Kay Martin e Barbara Voorhies, Female of the Species (Nova York, 1975), em especial o cap. 7; Nancy Tanner e Adrienne Zihlman, “Women in Evolution, Part I: Innovation and Selection in Human Origins”, SIGNS, vol. 1, nº 3 (Primavera de 1976), pp. 585-608.
[ 14 ] Elise Boulding, “Public Nurturance and the Man on Horseback”, em Meg Murray (org.), Face to Face: Fathers, Mothers, Masters, Monsters – Essays for a Non-Sexist Future (Westport, Conn., 1983), pp. 273-91.
[ 15 ] Wil iam Alcott, The Young Woman’s Book of Health (Boston, 1850) e Edward H. Clarke, Sex in Education or A Fair Chance for Girls (Boston, 1878), são típicos da postura do século XIX.
Uma discussão recente sobre as visões da saúde da mulher no século XIX
pode ser encontrada em Mary S. Hartman e Lois Banner (orgs.), Clio’s Consciousness Raised: New Perspectives on the History of Women (Nova York, 1974). Ver artigos de Ann Douglas Wood, Carrol Smith-Rosenberg e Regina Morantz.
[ 16 ] O viés patriarcal inconsciente presente nos chamados experimentos psicológicos científicos foi exposto pela primeira vez por Naomi Weisstein,
“Kinder, Küche, Kirche as Scientific Law: Psychology Constructs the Female”, em Robin Morgan (org.), Sisterhood Is Powerful: An Anthology of Writings from the Women’s Liberation Movement (Nova York, 1970), pp. 205-20.
[ 17 ] Para a visão freudiana, ver: Sigmund Freud, “Female Sexuality” (1931), em The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol.
21 (Londres, 1964); Ernest Jones, “Early Development of Female Sexuality”, International Journal of Psycho-Analysis, vol. 8 (1927), pp. 459-72; Sigmund Freud, “Some Physical Consequences of the Anatomical Distinction Between the Sexes” (1925), em Standard Edition, vol. 19 (1961); Erik Erikson, Childhood and Society (Nova York, 1950); Helene Deutsch, Psychology of Women, vol. 1 (Nova York, 1944). Ver também a discussão da posição freudiana revisionista em Jean Baker Mil er (org.), Psychoanalysis and Women (Harmondsworth, Ingl., 1973).
[ 18 ] Ver, por exemplo, Ferdinand Lundberg e Marynia Farnham, M.D., Modern Women: The Lost Sex (Nova York, 1947).
[ 19 ] Edward O. Wilson, Sociobiology: The New Synthesis (Cambridge, Mass., 1975), principalmente o último capítulo, “Man: From Sociobiology to Sociology”.
[ 20 ] Ruth Bleier, Science and Gender: A Critique of Biology and Its Theories on Women (Nova York, 1984), cap. 2. Ver também Marian Lowe, “Sociobiology and Sex Differences”, SIGNS, vol. 4, nº 1 (Outono de 1978), pp. 118-25.
A edição Especial de SIGNS, “Development and the Sexual Division of Labor”, vol. 7, nº 2 (Inverno de 1981), aborda a questão do ponto de vista feminista, empírica e teoricamente. Ver sobretudo Maria Patricia Fernandez Kel y,
“Development and the Sexual Division of Labor: An Introduction”, pp. 268-78.
[ 21 ] Para um resumo esclarecedor do impacto das mudanças demográficas sobre as mulheres, ver Robert Wel s, “Women’s Lives Transformed: Demographic and Family Patterns in America, 1600-1970”, em Carol Ruth Berkin e Mary Beth Nortin (org.), Women of America, A History (Boston, 1979), pp. 16-36.
[ 22 ] Estas críticas estão mais bem resumidas em uma série de ensaios críticos em SIGNS. Cf.: Mary Brown Parlee, “Psychology”, vol. 1, nº 1 (Outono de 1975), pp. 119-38; Carol Stack et al. , “Anthropology”, ibid., pp. 147-60; Reesa M.
Vaughter, “Psychology”, vol. 2, nº 1 (Outono de 1976), pp. 120-46; Louise Lamphere, “Anthropology”, vol. 2, nº 3 (Primavera de 1977), pp. 612-27.
[ 23 ] Gayle Rubin, “The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ of Sex”, em Reiter, Anthropology of Women, p. 159.
[ 24 ] Frederick Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, org. Eleanor Leacock (Nova York, 1972).
[ 25 ] J. J. Bachofen, Myth, Religion and Mother Right, trad. Ralph Manheim (Princeton, 1967); e Lewis Henry Morgan, Ancient Society, org. Eleanor Leacock (Nova York, 1963; reimpressão da edição de 1877).
[ 26 ] Engels, Origin, p. 218.
[ 27 ] Para um levantamento da divisão de trabalho por sexo em 224 sociedades, ver Murdock, Our Primitive Contemporaries (Nova York, 1934), e George P.
Murdock, “Comparative Data on the Division of Labor by Sex”, em Social Forces, vol. 15, nº 4 (maio de 1937), pp. 551-53. Para uma avaliação detalhada e uma crítica feminista desses dados, ver Karen Sacks, Sisters and Wives: The Past and Future of Sexual Equality (Westport, Conn., 1979), caps. 2 e 3.
[ 28 ] Engels, Origin, pp. 220-21.
[ 29 ] Ibid., p. 137, primeira citação; pp. 120-21, segunda citação.
[ 30 ] Uma teoria contrária com base em determinismo biológico é apresentada por Mary Jane Sherfey, M.D., The Nature and Evolution of Female Sexuality (Nova York, 1972). Sherfey argumenta que foi a capacidade de orgasmos ilimitados das mulheres e seu cio perpétuo que se tornaram um problema para a emergente vida em comunidade no Período Neolítico. A biologia feminina gerou um conflito entre os homens e inibiu a cooperação no grupo, o que fez os homens instituírem o tabu do incesto e a dominância sexual masculina para controlar o potencial socialmente destrutivo da sexualidade feminina.
[ 31 ] Engels, Origin, p. 129.
[ 32 ] Claude Lévi-Strauss, The Elementary Structures of Kinship, (Boston, 1969), p. 481.
[ 33 ] Gayle Rubin, “Traffic in Women”, em Reiter, Anthropology of Women, p. 177.
[ 34 ] Para uma crítica feminista da teoria de Lévi-Strauss, ver Sacks, Sisters, pp.
55-61.
[ 35 ] Sherry Ortner, “Is Female to Male as Nature Is to Culture?”, em Rosaldo e Lamphere, Woman, Culture and Society, pp. 67-88.
[ 36 ] Ibid. , pp. 73-4.
[ 37 ] A discussão é bem definida em duas coleções de ensaios: Sherry B. Ortner e Harriet Whitehead (orgs.), Sexual Meanings: The Cultural Construction of Gender and Sexuality (Nova York, 1981), e Carol MacCormack e Marilyn Strathern (orgs.), Nature, Culture and Gender (Cambridge, Ingl., 1980).
[ 38 ] Johann Jacob Bachofen, Das Mutterrecht: Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur (Stuttgart, 1861). Doravante mencionado como Direito Materno.
[ 39 ] Cf. Charlotte Perkins Gilman, Women and Economics (Nova York, 1966
“Reimpressão da edição de 1898”); Helen Diner, Mothers and Amazons: The First Feminine History of Culture (Nova York, 1965); Elizabeth Gould Davis, The First Sex (Nova York, 1971); Evelyn Reed, Women’s Evolution (Nova York, 1975).
[ 40 ] Robert Briffault, The Mothers: A Study of the Origins of Sentiments and Institutions, 3 vols. (Nova York, 1927); ver também “Introdução” a Bachofen de Joseph Campbel , Direito Materno, pp. xxv-vi .
[ 41 ] Bachofen, Direito Materno, p. 79.
[ 42 ] Cf. Discursos de ECS em El en DuBois (org.), Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony: Correspondence, Writings, Speeches (Nova York, 1981).
[ 43 ] Para essa mudança de atitude em relação às mulheres, ver Mary Beth Norton, Liberty’s Daughters: The Revolutionary Experience of American Women, 1750-1800 (Boston, 1980), caps. 8, 9 e a conclusão; e Linda Kerber, Women of the Republic: Intel ect and Ideology in Revolutionary America (Chapel Hil , 1980), cap. 9.
[ 44 ] A ideia de aptidão especial das mulheres para reforma e serviço comunitário aparece ao longo do trabalho de Jane Addams. Ele justifica o pensamento de Mary Beard, que o embasou com evidências históricas em Women’s Work in Municipalities (Nova York, 1915). Para exemplos da posição maternalista
moderna, ver Adrienne Rich, Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution (Nova York, 1976); e Dorothy Dinnerstein, The Mermaid and the Minotaur, (Nova York, 1977). Mary O’Brien, The Politics of Reproduction, (Boston, 1981), elabora uma teoria explicativa em que o trabalho reprodutivo é equiparado ao trabalho econômico em uma estrutura marxista.
A posição é a base da ideologia do movimento pacifista das mulheres, sendo expressa por ecologistas feministas como Susan Griffin, Woman and Nature: The Roaring Inside Her (Nova York, 1978); e Robin Morgan, The Anatomy of Freedom: Feminism, Physics, and Global Politics (Nova York, 1982).
Um argumento maternalista diferente é apresentado por Alice Rossi em “A Biosocial Perspective on Parenting”, Daedalus, vol. 106, nº 2 (Primavera de 1977), pp. 1-31. Rossi aceita argumentos sociobiológicos e os usa para propósitos feministas. Ela exige a restruturação de instituições sociais para permitir que as mulheres realizem suas funções de mãe e cuidadora sem que desistam de lutar por igualdade e oportunidades. Rossi aceitou sem questionar a anti-historicidade e afirmações não científicas da sociobiologia, e difere da maioria das feministas por não defender que os homens devem dividir igualmente a responsabilidade pela criação dos filhos. No entanto, sua posição merece atenção por ser uma variação do pensamento maternalista e em razão do papel de Rossi como pioneira da crítica feminista no campo da sociologia.
[ 45 ] Martin e Voorhies, Female of the Species, p. 187, descrevem padrões econômicos nessas sociedades.
[ 46 ] A literatura é examinada em N. Tanner e A. Zihlman (ver nota 7 acima); e em Sacks, Sisters and Wives, caps. 2 e 3.
[ 47 ] Martin e Voorhies, Female of the Species, p. 190. Para exemplos dessas discordâncias acadêmicas, ver nota 43 abaixo e Leacock sobre os esquimós, e, para diferentes interpretações: Jean L. Briggs, “Eskimo Women: Markes of Men”, em Carolyn J. Matthiasson, Many Sisters: Women in Cross-Cultural Perspective (Nova York, 1974), pp. 261-304; e Elise Boulding, The Underside of History: A View of Women Through Time (Boulder, Colo., 1976), p. 291.
[ 48 ] Eleanor Leacock, “Women in Egalitarian Societies”, em Renate Bridenthal e Claudia Koonz, Becoming Visible: Women in European History, (Boston, 1977), p.
27.
[ 49 ] Para uma descrição detalhada e análise da posição das mulheres iroquesas, ver Judith K. Brown, “Iroquois Women: An Ethnohistoric Note”, em Reiter, Anthropology of Women, pp. 235-51. A análise de Martin e Voorhies, Female of
the Species, pp. 225-29, é interessante para enfatizar a posição poderosa das mulheres iroquesas sem defini-la como matriarcado.
Uma asserção similar de Eleanor Leacock sobre a existência de matriarcado é questionada por Farb, pp. 212-13, e Paula Webster, “Matriarchy: A Vision of Power”, em Reiter, Anthropology, pp. 127-56.
[ 50 ] Martin e Voorhies, Female of the Species, p. 214. Ver também David Aberle,
“Matrilineal Descent in Crosscultural Perspective”, em Kathleen Gough e David Schneider (orgs.), Matrilineal Kinship (Berkley, 1961), pp. 657-727.
[ 51 ] Para uma pesquisa abrangente de toda a literatura sobre amazonas, ver Abby Kleinbaum, The Myth of the Amazons (Nova York, 1983). A autora conclui que as amazonas nunca existiram, mas que o mito de sua existência serviu para reforçar a ideologia patriarcal.
[ 52 ] Independentemente da estrutura familiar e das relações de parentesco, o status elevado das mulheres não significa necessariamente poder. Rosaldo argumentou de forma persuasiva que, mesmo nos casos em que as mulheres têm poder formal, elas não têm autoridade. Ela menciona os iroqueses como exemplo.
Naquela sociedade matrilinear, algumas mulheres ocupam posições de prestígio e fazem parte do Conselho de Anciãos, mas apenas homens podem ser chefes. Um exemplo de cultura com organização patriarcal na qual as mulheres têm poder econômico é a shtetl judaica do início do século XX. As mulheres conduziam negócios, ganhavam dinheiro e controlavam as finanças da família; tinham forte influência na política por meio de rumores, na criação de alianças pelo matrimônio e na influência que exerciam sobre os filhos meninos. Mesmo assim, as mulheres eram deferentes a seus pais e maridos e idolatravam o erudito – por definição, um homem – como a pessoa de status mais elevado da comunidade. Ver Michel e Rosaldo, “A Theoretical Overview”, em Rosaldo e Lamphere, Woman, Culture and Society, pp. 12-42.
[ 53 ] A descrição abaixo é baseada em James Mel aart, Çatal Hüyük: A Neolithic Town in Anatolia (Nova York, 1967). E também: James Mel aart, “Excavations at Çatal Hüyük, 1963, Third Preliminary Report”, Anatolian Studies, vol. 14 (1964), pp. 39-120; James Mel aart, “Excavations at Çatal Hüyük, 1965, Fourth Preliminary Report”, Anatolian Studies, vol. 16 (1966), pp. 165-92; Ian A. Todd, Çatal Hüyük in Perspective (Menlo Park, 1976).
[ 54 ] Lawrence Angel, “Neolithic Skeletons from Çatal Hüyük”, Anatolian Studies, vol. 21 (1971), pp. 77-98, 80. A pintura ocre dos esqueletos era possível porque os cadáveres, ao que parece, eram deixados para os abutres, que comiam suas
carnes, sendo depois os corpos enterrados. Várias pinturas nas paredes naquele local ilustram o processo.
[ 55 ] Mel aart, “Fourth Preliminary Report”. Deve-se notar que as especulações e interpretações de Mel aart são bem mais contidas nesses relatórios sobre as escavações do que em seu livro posterior. Ver também Todd, Çatal Hüyük in Perspective, pp. 44-5.
[ 56 ] Purushottam Singh, Neolithic Cultures of Western Asia (Londres, 1974), pp.
65-78, 85-105.
[ 57 ] Todd, Çatal Hüyük in Perspective, p. 133.
[ 58 ] Anne Barstow, “The Uses of Archeology for Women’s History: James Mel aart’s Work on the Neolithic Goddess at Çatal Hüyük”, Feminist Studies, vol. 4, nº 3 (Outubro de 1978), pp. 7-18.
[ 59 ] Ruby Rohrlich-Leavitt, “Women in Transition: Crete and Sumer”, em Bridenthal and Koonz, Becoming Visible, pp. 36-59; e Ruby Rohrlich, “State Formation in Sumer and the Subjugation of Women”, Feminist Studies, vol. 6, nº 1
(Primavera de 1980), pp. 76-102. Minhas referências são principalmente esse último ensaio.
[ 60 ] Angel, (ver nota 48), pp. 80-96.
[ 61 ] Todd, Çatal Hüyük in Perspective, p. 137.
[ 62 ] Paula Webster, depois de examinar todas as evidências a favor do matriarcado, concluiu que isso não poderia ser provado, mas explicou que as mulheres precisavam de “uma visão de matriarcado” para ajudá-las a moldar o próprio futuro diante das desanimadoras evidências de sua falta de poder e sua subordinação. Ver Paula Webster, “Matriarchy: A Vision of Power”, em Reiter, Anthropology of Women, pp. 141-56; e também: Joan Bamberger, “The Myth of Matriarchy: Why Men Rule in Primitive Society”, em Rosaldo e Lamphere, Woman, Culture and Society, pp. 263-80.
[ 63 ] Meus conceitos apresentados aqui são embasados na abordagem formulada por Mary Beard em Woman as Force in History (Nova York, 1946). Eu me aprofundei nesse tema ao longo do meu trabalho histórico. Ver sobretudo Gerda Lerner, The Majority Finds Its Past: Placing Women in History (Nova York, 1979), caps. 10-12.
[ 64 ] Ver Paula Webster, “Matriarchy: A Vision of Power”, em Rayna Reiter, Toward an Anthropology of Women (Nova York, 1975), pp. 141-56, para uma
discussão abrangente sobre as necessidades psicológicas das mulheres contemporâneas de ter uma visão do matriarcado no passado distante.
[ 65 ] Michel e Rosaldo, “The Use and Abuse of Anthropology: Reflections on Feminism and Cross-Cultural Understanding”, SIGNS, vol. 5, nº 3 (Primavera de 1980), p. 393.
Rosaldo explica melhor essas visões em seu trabalho não publicado,
“Moral/Analytical Dilemmas Posed by the Intersection of Feminism and Social Science”, preparado para a Conference on the Problem of Morality in the Social Sciences, Berkeley, março de 1980. A afirmação a seguir me parece particularmente apropriada: “Ao questionarem a visão de que somos vítimas de normas sociais cruéis ou produtos inconscientes de um mundo natural que (infelizmente) nos humilha, as feministas destacaram nossa necessidade de teorias que tratem de como os agentes moldam seus mundos; de interações nas quais haja significância; e de formas simbólicas e culturais em termos de quais expectativas são organizadas, quais desejos são articulados, quais prêmios são conferidos e quais resultados são considerados importantes” (p. 18).
[ 66 ] Ver Nancy Makepeace Tanner, On Becoming Human (Cambridge, Ingl., 1981), pp. 157-58. Ver também Nancy Tanner e Adrienne Zihlman, “Women in Evolution, Part I: Innovation and Selection in Human Origins”, SIGNS, vol. 1, nº 3
(Primavera de 1976), pp. 585-608.
[ 67 ] Ruth Bleier, Science and Gender: A Critique of Biology and Its Theories on Women (Nova York, 1984), cap. 3, esp. pp. 55 e 64-8. O mesmo ponto é abordado em Clifford Geertz, “The Impact of the Concept of Culture on the Concept of Man”, em The Interpretation of Cultures (Nova York, 1973), pp. 33-54.
[ 68 ] Ibid. , pp. 144-45; citação, p. 145.
[ 69 ] Cf. Capítulo Um acima, nota 11. E também: Karen Horney, Feminine Psychology (Nova York, 1967); Clara Thompson, On Women (Nova York, 1964); Harry Stack Sul ivan, The Interpersonal Theory of Psychiatry (Nova York, 1953), caps. 4-12.
[ 70 ] Por outro lado, um dos primeiros poderes que os homens institucionalizaram com o patriarcado foi o poder de o homem chefe de família decidir quais descendentes devem viver e quais devem morrer. Esse poder deve ter sido visto como uma vitória da lei sobre a natureza, pois vai diretamente contra a natureza e a experiência humana anterior.
[ 71 ] As informações sobre populações pré-históricas não são confiáveis e só podem ser expressas em termos quantitativos brutos. Cipol a considera que
“evidências embasam a visão de que as populações paleolíticas tinham mortalidade muito elevada. Como a espécie sobreviveu, temos de admitir que o homem primitivo também tinha fertilidade muito alta. Um estudo de 187 restos de fósseis de neandertais revela que um terço deles morreu antes de completar 20
anos de idade. Uma análise de 22 restos de fósseis da população de sinantropos asiáticos revelou que 15 deles morreram com menos de 14 anos de idade, 3
antes dos 29 anos e 3 com idades entre 40 e 50 anos”. Carlo M. Cipol a, The Economic History of World Population (Nova York, 1962), pp. 85-6.
Lawrence Angel, “Neolithic Skeletons from Çatal Hüyük”, Anatolian Studies, vol.
21 (1971), pp. 77-98; citação na p. 80.
Nas sociedades contemporâneas de caçadores/coletores, encontramos taxas de mortalidade infantil de até 60% no primeiro ano. Ver F. Rose, “Australian Marriage, Land Owning Groups and Institutions”, em R. B. Lee e Irven DeVore (orgs.), Man, the Hunter (Chicago, 1968), p. 203.
[ 72 ] Cf. Karen Sacks, Sisters and Wives: The Past and Future of Sexual Equality (Urbana, 1982), cap. 2.
Existe ainda a possibilidade de que a menstruação fosse uma barreira para a participação das mulheres na caça, não porque as mulheres ficassem fisicamente incapacitadas, mas por causa do efeito do cheiro do sangue nos animais. Essa possibilidade chamou minha atenção durante uma viagem recente ao Alasca. Em seus folhetos destinados aos campistas e mochileiros, o Serviço Nacional de Parques recomendava que mulheres menstruadas ficassem longe das áreas de vida selvagem, já que ursos-pardos são atraídos pelo cheiro de sangue.
[ 73 ] O antropólogo Marvin Harris argumenta o contrário, que “a caça é uma atividade intermitente e que não há nada que impeça mulheres lactantes de deixarem seus filhos aos cuidados de outras pessoas durante algumas horas uma ou duas vezes por semana”. Harris argumenta que a especialidade de caça dos homens surgiu de seu treinamento para a guerra, e que é nas atividades de guerra dos homens que devemos buscar a causa da supremacia masculina e do machismo. Marvin Harris, “Why Men Dominate Women”, Columbia (Verão de 1978), pp. 9-13, 39. É improvável e não temos nenhuma evidência que demonstre que as atividades de guerra organizadas tenham precedido o grande jogo da caçada, mas argumentaria que, em todo caso, tanto atividades de caça quanto militares não seriam escolhidas pelas mulheres pelos motivos que mencionei.
Para uma interpretação feminista do mesmo material, que não faz concessões ao “determinismo biológico”, ver Bleier, Science and Gender, caps. 5 e 6.
[ 74 ] Cf. M. Kay Martin e Barbara Voorhies, Female of the Species (Nova York, 1975), pp. 77-83; Sacks, Sisters and Wives, pp. 67-84; Ernestine Friedl, Women
and Men: An Anthropologist’s View (Nova York, 1975), pp. 8, 60-1.
[ 75 ] Simone de Beauvoir, The Second Sex (Nova York, 1953; reimpressão de 1974).
[ 76 ] Embora não haja provas sólidas dessas afirmações sobre a originalidade das contribuições femininas, também não há provas da inventividade masculina.
As duas afirmações são baseadas em especulações. Para nossos propósitos, é importante ter liberdade para podermos especular sobre as contribuições das mulheres como iguais. O único perigo nesse exercício é declarar que nossas especulações representam provas reais, já que parecem convincentes e lógicas.
Foi isso que os homens fizeram; não devemos repetir o mesmo erro.
Elise Boulding, The Underside of History: A View of Women Through Time (Boulder, Colo., 1976), caps. 3 e 4. Ver também V. Gordon Childe, Man Makes Himself (Nova York, 1951), pp. 76-80.
Para uma síntese um tanto similar baseada no trabalho antropológico posterior, ver Tanner e Zihlman, e Sacks, mencionadas acima nas notas 4 e 10.
[ 77 ] Nancy Chodorow, The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender (Berkeley, 1978), p. 91.
[ 78 ] Ibid. , p. 169. Para uma análise similar baseada em evidências diferentes, ver Carol Gil igan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development (Cambridge, Mass., 1982).
[ 79 ] Chodorow, The Reproduction of Mothering, pp. 170, 173.
[ 80 ] Adrienne Rich, em suas análises da “instituição da maternidade no patriarcado” e da “heterossexualidade compulsória”, e Dorothy Dinnerstein, em sua interpretação do pensamento freudiano, chegaram a concluções semelhantes. Ver Adrienne Rich, Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution (Nova York, 1976); Adrienne Rich, “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence”, SIGNS, vol. 5, nº 4 (Verão de 1980), pp. 631-60; e Dorothy Dinnerstein, The Mermaid and the Minotaur: Sexual Arrangements and Human Malaise (Nova York, 1977).
M. Rosaldo em “Dilemmas” (ver nota 3 acima) critica essas teorias psicológicas porque elas desprezam ou ignoram o contexto social em que ocorre a criação dos filhos. Embora eu admire o trabalho de Chodorow e de Rich, concordo com essa crítica e acrescento que, em ambos os casos, as generalizações aplicáveis a pessoas de classe média de nações desenvolvidas são apresentadas como se fossem universais.
[ 81 ] Lois Paul, “The Mastery of Work and the Mystery of Sex in a Guatemalan Vil age”, em M. Z. Rosaldo e Louise Lamphere, Woman, Culture and Society (Stanford, 1974), pp. 297-99.
[ 82 ] Cf.: Sigmund Freud, Civilization and Its Discontent (Nova York, 1962); Susan Brownmil er, Against Our Wil : Men, Women and Rape (Nova York, 1975); Elizabeth Fisher, Woman’s Creation, Sexual Evolution and the Shaping of Society (Garden City, 1979), pp. 190, 195.
[ 83 ] Minha opinião sobre o assunto da ascensão e das consequências da guerra masculina foi influenciada por Marvin Harris, “Why Men Dominate Women”, e por uma troca estimulante de cartas e conversas com Virginia Brodine.
[ 84 ] Claude Lévi-Strauss, The Elementary Structures of Kinship (Boston, 1969), p. 115.
Para uma ilustração contemporânea dos trabalhos desse processo e de como a garota realmente “não pode mudar sua natureza”, ver Nancy Lurie (org.), Mountain Wolf Woman, Sister of Crashing Thunder (Ann Arbor, 1966), pp. 29-30.
[ 85 ] C. D. Darlington, The Evolution of Man and Society (Nova York, 1969), p. 59.
[ 86 ] Boulding, Underside, cap. 6.
[ 87 ] Ver, por exemplo, o caso dos Lovedu em Sacks, Sisters and Wives, cap. 5.
[ 88 ] Cf. Maxine Molyneux, “Androcentrism in Marxist Anthropology”, Critique of Anthropology, vol. 3, nos 9-10 (Inverno de 1977), pp. 55-81.
[ 89 ] Peter Aaby, “Engels and Women”, Critique of Anthropology, vol. 3, nos 9-10
(Inverno de 1977), pp. 39-43.
[ 90 ] Ibid. , p. 44. A explicação de Aaby também se aplica ao caso, inexplicável segundo a tese de Meil assoux, de sociedades que progridem diretamente da divisão sexual do trabalho relativamente igualitária para a dominância patriarcal por meio do aumento das atividades de guerra. Ver, por exemplo, o desenvolvimento da sociedade asteca descrito em June Nash, “The Aztecs and the Ideology of Male Dominance”, SIGNS, vol. 4, nº 2 (Inverno de 1978), pp. 349-62. Para a sociedade inca, ver Irene Silverblatt, “Andean Women in the Inca Empire”, Feminist Studies, vol. 4, nº 3 (Outubro de 1978), pp. 37-61.
[ 91 ] Aaby, “Engels on Women”, p. 47. É possível notar que o argumento de Aaby corrobora a tese evolutiva de Darlington. Ver p. 47 acima.
[ 92 ] Rayna Rapp Reiter, “The Search for Origins: Unraveling the Threads of Gender Hierarchy”, Critique of Anthropology, vol. 3, nos 9-10 (Inverno de 1977),
pp. 5-24; Robert McC. Adams, The Evolution of Urban Society (Chicago, 1966); Robert Carneiro, “A Theory of the Origin of the State”, Science, vol. 169, nº 3947
(Agosto de 1970), pp. 733-38.
[ 93 ] Minhas generalizações sobre a formação do Estado arcaico são baseadas no seguinte: Charles Redman, The Rise of Civilization: From Early Farmers to Urban Society in the Ancient Near East (São Francisco, 1978); Robert Carneiro,
“A Theory of the Origin of the State”, Science, vol. 169, nº 3947 (Agosto de 1970), pp. 733-38; V. Gordon Childe, Man Makes Himself (Londres, 1936); Morton Fried,
“On the Evolution of Social Stratification and the State”, em Stanley Diamond (org.), Culture and History, (Nova York, 1960), pp. 713-31; Jacquetta Hawkes e Sir Leonard Wool ey, History of Mankind, vol. I (Nova York, 1963); Robert McC.
Adams, The Evolution of Urban Society (Chicago, 1966); Robert McC. Adams, Heartland of the Cities: Surveys of Ancient Settlement and Land Use on the Central Flood Plain of the Euphrates (Chicago, 1981); Service, Elman, Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Evolution (Nova York, 1975); Cambridge Ancient History (doravante chamado de CAH), vol. I, pt. 1,
“Prolegomena and Prehistory”, org. por I. E. S. Edwards, C. J. Gadd, N. G. L.
Hammond (Cambridge, Ingl., 1970, 3. ed.), cap. 13: C. J. Gadd, “The Cities of Babylon”. Henry T. Wright e Gregory A. Johnson, “Population, Exchange, and Early State Formation in Southwestern Iran”, American Anthropologist, vol. 77, nº
2 (Primavera de 1975), pp. 267-89.
[ 94 ] O princípio que move toda a realidade ao mesmo tempo que não se move e não é movido por nenhum outro Ser. (N. E.)
[ 95 ] Para as várias teorias de origem, ver Frederick Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, org. Eleanor Leacock (Nova York, 1972); Childe, Man Makes Himself; Karl Wittfogel, Oriental Despotism (New Haven, 1957), p. 18; Carneiro, “A Theory...”, Adams, Urban Society, pp. 14, 42.
Para uma discussão historiográfica detalhada dessas teorias, ver Redman, Rise of Civilization, cap. 7.
[ 96 ] Rayna Rapp Reiter, “The Search for Origins: Unraveling the Threads of Gender Hierarchy”, Critique of Anthropology, vol. 3, nos 9-10 (Inverno de 1977), pp. 5-24; citação na p. 9.
Outras escritoras feministas a abordarem o assunto são Ruby Rohrlich-Leavitt,
“Women in Transition: Crete and Sumer”, em Renate Bridenthal e Claudia Koonz (orgs.), Becoming Visible: Women in European History (Boston, 1977), pp. 36-59; e Ruby Rohrlich, “State Formation in Sumer and the Subjugation of Women”, Feminist Studies, vol. 6, nº 1 (Primavera de 1980), pp. 76-102; Germaine Til ion,
“Prehistoric Origins of the Condition of Women in ‘Civilized’ Areas”, International Social Science Journal, vol. 29, nº 4 (1977), pp. 671-81.
[ 97 ] Redman, Rise of Civilization, p. 229.
[ 98 ] Minha descrição segue o modelo ecológico de sistemas multifatoriais desenvolvido por Redman em Rise of Civilization, pp. 229-36.
[ 99 ] Denise Schmandt-Besserat, “The Envelopes that Bear the First Writing”, Technology and Culture, vol. 21, nº 3 (1980), pp. 357-85; Denise Schmandt-Besserat, “Decipherment of the Earliest Tablets”, Science, vol. 211 (16 de janeiro de 1981), pp. 283-85.
[ 100 ] O nome desse governante, de acordo com os estudos mais recentes, é grafado como Uruinimgina. Como ele foi bastante mencionado em livros voltados para o leitor comum como Urukagina, decidi usar o nome antigo neste livro para evitar confusões desnecessárias.
[ 101 ] Alguns escritores especularam que a exclusão das mulheres das elites governantes ocorreu devido à exclusão delas das Forças Armadas. Cf. Elise Boulding, “Public Nurturance and the Man on Horseback”, em Meg Murray (org.).
Face to Face: Fathers, Mothers, Masters, Monsters – Essays for a Nonsexist Future (Westport, 1983). A uma conclusão parecida chegou o antropólogo Marvin Harris em “Why Men Dominate Women”, Columbia (Verão de 1978), pp. 9-13, 39.
[ 102 ] Adams, Urban Society, p. 79.
[ 103 ] Irene Silverblatt, “Andean Women in the Inca Empire”, Feminist Studies, vol. 4, nº 3 (Outubro de 1978), pp. 37-61.
[ 104 ] CAH, vol. I, pt. 2, p. 115.
[ 105 ] As informações sobre os túmulos reais em Ur são baseadas no relato de Sir Leonard Wool ey em P. R. S. Moorey, Ur of the Chaldees: A Revised and Updated Version of Sir Leonard Wool ey’s Excavations at Ur (Ithaca, 1982), pp.
51-121. O número de túmulos reais varia, de 16 em Wooley and Moorey (p. 60) a 17 no folheto “Túmulos Reais em Ur”, das Antiguidades Asiáticas Ocientais, do Museu Britânico (sem data ou local de publicação).
Ver também uma edição anterior, Sir Charles Leonard Wool ey, Excavations at Ur (Londres, 1954), e Shirley Glubok (org.), Discovering the Royal Tombs at Ur (Londres, 1969).
[ 106 ] O nome dela era anteriormente grafado como Shub-ad.
[ 107 ] Glubok, Discovering the Royal Tombs at Ur, pp. 48-9.
[ 108 ] Ibid. , pp. 43-9, 71-83.
[ 109 ] Citado em ibid. , p. 80.
[ 110 ] Ibid. , pp. 47-9.
[ 111 ] Redman, Rise of Civilization, pp. 297-98.
[ 112 ] Ibid. , pp. 304-06.
[ 113 ] As informações sobre o governo de Lugalanda e Urukagina são baseadas em P. Anton Deimel, Sumerische Tempelwirtschaft zur Zeit Urukaginas und seiner Vorgaenger (Roma, 1931), pp. 75-112; A. I. Tyumenev, “The Working Personnel on the Estate of the Temple BaU in Lagos During the Period of Lugalanda and Urukagina (24-25th century B.C.)”, em I. M. Diakonoff (org.), Ancient Mesopotamia: Socio-economic History: A Col ection of Studies by Soviet Scholars (Moscou, 1969), pp. 93-5; C. J. Gadd, “The Cities of Babylon”, CAH, vol. I, pp. 35-51, e C. C. Lambert-Karlovsky, “The Economic World of Sumer”, em Denise Schmandt-Besserat (org.), The Legacy of Sumer: Invited Lectures on the Middle East at the University of Texas at Austin (Malibu, 1976), pp. 62-3. Para evidências da compra de escravos de Baranamtarra, ver Otto Edzard Dietz, “Sumerische Rechtsurkunden des 3. ten Jahrtausends, aus der Zeit vor der III. ten Dynastie Von Ur”, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, Abhandlungen Neue Folge, nº 67 (Munique, 1968), p. 40, 41, 45.
[ 114 ] Há controvérsias sobre a natureza dessa ascensão ao poder. Deimel afirma que Urukagina matou Lugalanda e sua rainha, enquanto Tyumenev diz que os dois continuaram vivos e que “Baramantarra viveu dois anos após a ascensão de Urukagina ao poder desfrutando de uma posição de considerável destaque”.
Tyumenev, em Diakonoff, Ancient Mesopotamia, p. 93.
[ 115 ] A primeira visão é representada pelo acadêmico soviético V. V. Struve, que menciona um aumento do número de homens livres com direito a rações oriundos das terras que eram propriedades comunitárias dos templos no segundo ano do reinado de Urukagina, o que ele descreve como “uma vitória dos homens livres de Lugash sobre os ricos, uma espécie de revolução democrática”. Struve, em Diakonoff, Ancient Mesopotamia, pp. 17-69 e 127-72; citação na p. 39. Essa evidência não parece convincente e com certeza poderia ser explicada como o esforço de um usurpador para aumentar sua base de apoio. A segunda explicação é preferida por A. I. Tyumenev, “The State Economy of Ancient Sumer”, ibid. , pp. 70-87; e Deimel, Sumerische Tempelwirtschaft, p. 75.
[ 116 ] Kazuya Maekawa, “The Development of É-MÍ in Lagash during the Early Dynastic III”, Mesopotamia, vols. 8-9 (1973-1974), pp. 77-114; 137-42.
[ 117 ] Sou grata ao professor Jerrold Cooper do Departamento de Estudos do Oriente Próximo, da Johns Hopkins University, Baltimore, por trazer sua tradução desse texto à minha atenção e por me beneficiar com sua interpretação. A tradução aparece em Jerrold Cooper, Reconstructing History from Ancient Inscriptions: The Lagash-Umma Border Conflict, vol. 2/1 (Malibu, 1983), p. 51. O
professor Cooper interpreta essa afirmação como uma hipérbole, parte da justificativa de Urukagina para sua usurpação do poder.
Outra tradução fidedigna enfatiza a dificuldade desse texto. Lê-se: “As mulheres de antigamente tinham dois homens cada uma; quanto às mulheres de hoje, essa prática […] foi abandonada”. (Traduzido do alemão por Gerda Lerner.) H. Steible, Altsumerische Bau-und Weihinschriften, 2 vols. (Wiesbaden, 1982). Citação de Urukagina # 6, vol. I, pp. 318-19; comentário, vol. II, pp. 158-59.
[ 118 ] Tradução do professor Jerrold Cooper. O ponto de interrogação indica que a tradução do termo é incerta.
Steible lê a passagem da seguinte maneira: “Se uma mulher a um homem […]
falar!, seus comentários […] e então [...] será pendurada nos portões da cidade”
(tr. do alemão por Gerda Lerner). O significado de uma palavra, que pode ser lida como “nariz, boca ou dentes”, é considerado tão incerto por Steible que ele a omite. O comentário “pendurada nos portões da cidade” aparece em outros contextos para indicar uma cerimônia de humilhação pública. A dificuldade da passagem conforme interpretada por dois especialistas deve nos deixar especialmente cautelosos ao interpretarmos.
[ 119 ] Rohrlich, “State Formation”, Feminist Studies (Primavera de 1980), p. 97.
[ 120 ] Após a primeira interpretação, C. J. Gadd afirma que Urukagina decretou
“certa redução de impostos antes exigidos na ocasião de divórcios, restringindo, assim, as ligações das mulheres, que, em consequência dessas multas, passavam a ser esposas de outros homens sem que tivessem deixado de ser casadas com os ex-maridos”. Gadd em CAH, vol. I, cap. 13, p. 51. Redman, Rise of Civilization, p. 306, segue interpretação parecida. Devo a segunda interpretação à professora Anne Kilmer, do Departamento de Estudos do Oriente Próximo, University of California, Berkeley.
[ 121 ] Bernard Frank Batto, Studies on Women at Mari (Baltimore, 1974), p. 8.
[ 122 ] Deimel, Sumerische Tempelwirtschaft, pp. 36-7, 85, 88-9, 98, 110-11.
[ 123 ] Tyumenev em Diakonoff, Ancient Mesopotamia, pp. 115-17. Após o segundo ano do reinado de Urukagina, a lista total de pessoal continua tendo cerca de mil nomes em um ano. Ver também Gadd, CAH, vol. I, p. 39, e Maekawa, “The Development of the É-MÍ [...]”, passim.
[ 124 ] Wil iam Hal o, “The Women of Sumer”, em Schmandt-Besserat, Legacy of Sumer, p. 29.
[ 125 ] Ibid. E também: Wil iam Hal o and J. J. A. van Dijk (trad.), The Exaltation of Inanna (New Haven, 1968).
[ 126 ] Hal o, “Women of Sumer”, em Schmandt-Besserat, Legacy of Sumer, p. 30.
[ 127 ] Ibid. , p. 31.
[ 128 ] Para um estudo interessante das princesas medievais a quem cabiam esses papéis, ver Elise Boulding, The Underside of History: A View of Women Through Time (Boulder, 1976), pp. 429-39.
[ 129 ] Hal o, “Women of Sumer”, em Schmandt-Besserat, Legacy of Sumer, p. 30.
[ 130 ] Ibid. , p. 34.
[ 131 ] Batto, Women at Mari, pp. 5, 137-38.
[ 132 ] Ibid. , p. 137.
[ 133 ] Ibid. , pp. 24-5.
[ 134 ] Ibid. Para referências a essa prática na Bíblia, ver 2 Samuel 16:20-23 e Gênesis 49:3-4. Para as sugestões de que as esposas e filhas de Zimri-Lim tiveram destino similar após sua derrota, ver Jack M. Sasson, “The Thoughts of Zimri-Lim”, Biblical Archaeologist, vol. 47, nº 2 (Junho de 1984), p. 115.
[ 135 ] Batto, Women at Mari, pp. 51-2.
[ 136 ] Ibid. , p. 20.
[ 137 ] Ibid. , p. 16.
[ 138 ] Ibid. , p. 27. Ugbabatum eram as sacerdotisas do mais alto escalão em Mari, embora em outros lugares fossem superadas por outros níveis de sacerdotisas. Batto acha que a expressão “documento do status” faz referência a uma tábua que atribuía funções às prisioneiras. Warailisu pode ter sido uma autoridade cuja importância era maior do que a de um simples guarda do harém.
Batto sugere, com base em outras evidências, que ele pode ter sido um controlador – cargo burocrático importante.
A expressão “véu de Subartu” não é explicada nem por Batto nem por outros que interpretaram essa passagem. Ao investigar o assunto, não encontrei referência a essa frase, mas descobri que Subartu era uma área ao norte da Babilônia de onde escravos eram adquiridos com frequência. Pode-se justificar a consideração de que um “véu de Subartu” significa um véu apropriado para uma
escrava de Subartu. Para tanto, ver J. J. Finkelstein, “Subartu and Subarians in Babylonian Sources”, Journal of Cuneiform Studies, vol. 9 (1955), pp. 1-7.
Jack Sasson traduz a passagem “Ensine a dança de Subartu”. (Comunicação pessoal com Gerda Lerner.) A mim, parece que o uso de véu por essas mulheres deveria ser considerado à luz da prática bem estabelecida de cobrir mulheres com véu como parte da cerimônia de casamento, ou cobrir uma concubina com o véu para torná-la esposa. Embora essa prática seja confirmada para a Babilônia e para a Suméria, é bem possível que também tenha sido usada em Mari. Nesse caso, a referência ao “véu de Subartu” pode ter a significância simbólica de incorporação dessas mulheres a seus devidos lugares no harém.
[ 139 ] O texto mencionado aqui é de W. H. Roemer, Frauenbriefe über Religion, Politik und Privatleben in Mari. Investigação para G. Dossin, Archives Royales de Mari X, Paris, 1967 (Neukirchen-Venyn, 1971). (Trad. Gerda Lerner.) Batto (p. 84) traduz essa passagem assim: “Há (outras) presas aqui diante de mim; eu mesmo selecionarei dentre estas garotas quais pegarei para o véu e (as) enviarei (para você)”.
[ 140 ] Jack Sasson sugere que Kirum era a esposa secundária, e Shibatum era a primeira, e que Kirum não teve filhos, enquanto Shibatum deu à luz gêmeos. O
professor Sasson usa a grafia “Shimatum”.
[ 141 ] Batto, Studies, pp. 42-28; citação, p. 43.
[ 142 ] O fim da primeira carta de Kirum e a segunda carta são mencionados na íntegra em Jack M. Sasson, “Biographical Notices on Some Royal Ladies from Mari”, Journal of Cuneiform Studies, vol. 25, nº 2 (Janeiro de 1973), pp. 59-104; citação, pp. 68-9.
[ 143 ] Referência e citação, Sasson, ibid.
[ 144 ] Batto, Studies, pp. 48-51; citação, pp. 48-9.
[ 145 ] Ibid., p. 39. O mesmo incidente é abordado em Sasson, Royal Ladies, pp.
61-6.
[ 146 ] Batto, Studies, cap. 5; citação, p. 96.
[ 147 ] Ibid. , p. 99. Agradeço ao professor Jack Sasson por uma tradução um tanto diferente dessa passagem: “Sou a filha de um rei! Você é uma rainha!
Considerando que até os soldados tratam bem quem eles capturam como prisioneiros, você não devia me tratar assim também, já que você e seu marido me enclausuraram?”
[ 148 ] Batto, p. 100.
[ 149 ] Ibid. , p. 106, nota 44.
[ 150 ] Ibid. , pp. 100-01.
[ 151 ] Ibid. , pp. 67-73. Pela sugestão de que talvez ela fosse parente do rei, agradeço ao professor Sasson (correspondência pessoal).
[ 152 ] Norman Yoffee, The Economic Role of the Crown in the Old Babylonian Period (Malibu, 1977), p. 148.
[ 153 ] The New Encyclopaedia Britannica, 15. ed. (Chicago, 1979), vol. 16,
“Slavery, Serfdom and Forced Labour”, pp. 855, 857.
[ 154 ] Minhas generalizações sobre escravidão são baseadas principalmente nas seguintes fontes: David Brion Davis, The Problem of Slavery in Western Culture (Ithaca, 1966); David Brion Davis, The Problem of Slavery in the Age of Revolution: 1770-1823 (Ithaca, 1975); Carl Degler, Neither Black nor White; Slavery and Race Relations in Brazil and the United States (Nova York, 1971); Moses I. Finley, “Slavery”, Encyclopedia of the Social Sciences (Nova York, 1968), vol. 14, pp. 307-12; Moses I. Finley, Slavey in Classical Antiquity (Cambridge, Ingl., 1960); Eugene D. Genovese, Rol Jordan Rol : The World the Slaves Made (Nova York, 1974); Winthrop D. Jordan, White Over Black: American Attitudes Toward the Negro, 1550-1812 (Chapel Hil , 1968); Herbert S. Klein, Slavery in the Americas: A Comparative Study of Virginia and Cuba (Chicago, 1967); Gunnar Myrdal, American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy (Nova York, 1944); Suzanne Miers e Igor Kopytoff (orgs.), Slavery in Africa: Historical and Anthropological Perspectives (Madison, 1977); Orlando Patterson, Slavery and Social Death: A Comparative Study (Cambridge, Mass., 1982).
[ 155 ] Outros autores abordaram o assunto de forma semelhante: “O escravo é um forasteiro: isso por si só permite não só sua erradicação, mas também sua redução de pessoa a algo que possa ser propriedade de alguém”. Robin Winks (org.), Slavery: A Comparative Perspective (Nova York, 1972), pp. 5-6.
E também: Patterson, Slavery and Social Death, pp. 5, 7; Finley, “Slavery”, pp.
307-12; Encyclopedia of the Social Sciences, pp. 308-09.
“Escravos (na África) têm uma coisa em comum: são todos estranhos em um ambiente novo”. Miers e Kopytoff, Slavery in Africa, p. 15.
[ 156 ] James L. Watson, “Transactions in People: The Chinese Market in Slaves, Servants and Heirs”, em James L. Watson (org.), Asian and African Systems of Slavery (Berkeley, 1980), pp. 231-32.
[ 157 ] Patterson, Slavery and Social Death, pp. 5, 6, 10.
[ 158 ] The New Encyclopaedia Britannica, vol. 16, p. 855.
[ 159 ] Robert McC. Adams, The Evolution of Urban Society (Chicago, 1966), pp.
96-7.
[ 160 ] Igor M. Diakonoff, “Socio-economic Classes in Babylonia and the Babylonian Concept of Social Stratification”, publicado como um componente de D. O. Edzard, “Gesel schaftsklassen im alten Zweistromland und in den angrenzenden Gebieten”, XVIII Recontre assyriologique internationale, Munique, 29 de junho a 3 de julho de 1970 (Munique, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, Abhandlungen, Neue Folge, nº 75 (1972), p.
45.
[ 161 ] Patterson, Slavery and Social Death, p. 10.
[ 162 ] Ibid. , p. 6.
[ 163 ] I. J. Gelb, “Prisoners of War in Early Mesopotamia”, Journal of Near Eastern Studies, vol. 32 (1973), pp. 74-7.
[ 164 ] Ibid. , p. 94.
Ao pesquisar a historiografia sobre a questão, a respeito de se a maioria dos prisioneiros de guerra na Mesopotâmia era escravizada, Orlando Patterson mostra que até uma década atrás a visão afirmativa se mantinha, mas que estudos recentes, tanto russos quanto ocidentais, parecem concordar que os prisioneiros de guerra eram mantidos como prisioneiros por um breve período e então liberados e reintegrados. Essa visão é sustentada por I. I. Semenov e por I.
J. Gelb. O próprio Patterson acha que, embora isso seja verdade para a maioria dos prisioneiros de guerra, “em todas as épocas alguns prisioneiros de guerra foram usados como escravos [...] e no período neobabilônico há motivos para crer que a maioria estava sendo escravizada”. Patterson, Slavery and Social Death, pp. 109-10.
[ 165 ] Gelb, “Prisoners of War”, p. 91.
Sobre o termo igi-du-nu, ver V. V. Struve, “The Problem of the Genesis, Development and Disintegration of the Slave Societies of the Ancient Orient”, em I.
M. Diakonoff (org.), Ancient Mesopotamia: Socio-economic History: A Col ection of Studies by Soviet Scholars (Moscou, 1969), pp. 23-4. Para uma interpretação diferente, ver A. I. Tyumenev, em Diakonoff, ibid. , p. 99, nota 36.
[ 166 ] Ibid. , p. 23 (Struve).
[ 167 ] Gelb, “Prisoners of War”, p. 91.
[ 168 ] E. G. Pul eyblank, “The Origins and Nature of Chattel Slavery in China”, Journal of Economic and Social History of the Orient, vol. 1, pt. 2 (1958), p. 190. A citação do Código de Leis de Han aparece em C. Martin Wilbur, “Slavery in China during the Former Han Dynasty; 206 B.C. – A.D. 25”, Ahtropological Series, Publications of Field Museum of National History, vol. 34 (15 de janeiro de 1943), p. 84. Outros exemplos de mutilação de escravos são mencionados, ibid. , p. 286.
[ 169 ] C. W. W. Greenidge, Slavery (Londres, 1958), p. 29.
[ 170 ] Gelb usa o nome Bur-Sin. Esse nome atualmente é transcrito como ‘Amar-Su’en. “Prisoners of War”, p. 89.
[ 171 ] P. Anton Deimel, Sumerische Tempelwirtschaft zur Zeit Urukaginas und seiner Vorgaenger (Roma, 1931), pp. 88-9.
Para uma discussão detalhada das listas de ração do Templo de Bau, ver ensaios de V. V. Struve e de A. I. Tyumenev, em Diakonoff (org.), Ancient Mesopotamia... , pp. 17-69 e 88-126.
Lista de mulheres escravas e seus filhos
(com base em A. I. Tyumenev em Diakonoff, p. 116)
Mulheres
Crianças
Ano I de Urukagina
93
42
II
143
89
III
141
65
IV
128
57
V
128
60
VI
173
48
Como a lista não nos diz quantas das mulheres não tinham filhos, não podemos determinar o número de filhos por mulher. Mas o fato de o número total de crianças não aumentar muito em cinco anos parece indicar que essas mulheres não eram usadas com finalidade sexual. Se considerarmos a em geral elevada taxa de mortalidade infantil, o número de crianças, na verdade, parece diminuir conforme o número de mulheres aumenta. Talvez isso se deva à morte ou à venda das crianças. Números de outros quatro templos em Lagash durante o Ano V de Urukagina mostram 104 mulheres escravas e 51 filhos da deusa Nanse; 10
mulheres escravas e 3 crianças do deus Nindar; 16 mulheres escravas e 7
crianças do deus Dumuzi e 14 mulheres escravas e 7 crianças da deusa Ninmar.
Diakonoff, p. 123. Esses números mostram de maneira consistente a mesma proporção que os números acima: menos da metade do número de crianças em comparação com o número de mulheres.
[ 173 ] Bernard Frank Batto, Studies on Women at Mari (Baltimore, 1974), p. 27, doc. 126.
[ 174 ] Rivkah Harris, Ancient Sippar: A Demographic Study of an Old-Babylonian city (1894-1595 B.C.) (Nederlands Historisch-Archelogisch Institute te Instanbul, 1975), p. 333.
[ 175 ] Para a datação de The Iliad, ver Moses I. Finley, The World of Odysseus (Londres, 1964), p. 26.
[ 176 ] Richmond Lattimore, trad., The Iliad of Homer (Chicago, 1937), I, pp. 184-88.
[ 177 ] Ibid. , IX, pp. 132-34.
[ 178 ] Ibid. , IX, pp. 128-29.
[ 179 ] Ibid. , IX, pp. 139-40.
[ 180 ] Ibid. , IX, pp. 664-68.
[ 181 ] Ibid. , IX, p. 593; ver também: XVI, pp. 830-32.
[ 182 ] Ibid. , pp. 450-59.
[ 183 ] Moses I. Finley, The World of Odysseus (edição brochura da Meridian; Nova York, 1959), p. 56.
[ 184 ] Wil iam L. Westermann, The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity (Philadelphia, 1955), pp. 26, 28, 63.
[ 185 ] Ibid. , p. 7.
[ 186 ] Thucydides, History of Peloponnesian War (Cambridge, Mass., 1920), III, 68, 2; IV, 48, 4; V, 32, 1.
Ver também O. Patterson, Slavery and Social Death, “A prática primitiva de massacrar os homens e escravizar apenas mulheres e crianças foi claramente comprovada em diversas situações” (p. 121).
[ 187 ] E. A. Thompson, “Slavery in Early German”, em Moses I. Finley, Slavery in Classical Antiquity, pp. 195-96.
[ 188 ] Nesse levantamento mundial sobre a escravidão, O. Patterson descobre que “O que determinava o viés de gênero na captura de prisioneiros não era o
nível de desenvolvimento da sociedade ou o grau de dependência estrutural da escravidão, e sim o uso que se daria aos escravos […] considerações puramente militares e o problema de segurança na sociedade do captor. É óbvio que era mais fácil capturar mulheres e crianças do que homens; também era mais fácil mantê-las e integrá-las à comunidade. Além disso, na maioria das sociedades pré-modernas, as mulheres eram trabalhadoras de alta produtividade […]”.
Patterson, Slavery and Social Death, pp. 120-21.
Ao examinar 186 sociedades escravocratas que ele selecionou a partir da amostra de Murdock, Patterson descobriu que “o número de mulheres escravas ultrapassava o de homens escravos em 54% de todas as sociedades escravocratas […]; o número de mulheres escravas é igual ao de homens escravos em apenas 17%; e são em menor número que os homens em apenas 29% das sociedades amostradas” (p. 199). Essa conclusão corrobora minha tese de que as mulheres foram escravizadas mais fácil e rapidamente que os homens na maioria das sociedades escravocratas.
[ 189 ] Adams, Urban Society, p. 96.
[ 190 ] Abd el-Mohsen Bakir, Slavery in Pharaonic Egypt (Cairo, 1952), p. 25.
[ 191 ] Fritz Gschnitzer, Studien zur griechischen Terminologie der Sklaverei:
“Untersuchungen zur aelteren, insbesondere Homerischen Sklaventerminologie”
(Wiesbaden, 1976), pp. 8, 10, nota 25, pp. 114-15. O fato de que tanto doulos quanto amphipolos aplicados a homens aparecem apenas séculos depois, o que corrobora a evidência linguística que citei de outras culturas, demonstra que as mulheres foram escravizadas consideravelmente antes que os homens.
[ 192 ] Winks, Slavery, p. 6.
[ 193 ] Isaac Mendelsohn, Legal Aspects of Slavery in Babylonia, Assyria and Palestine: A Comparative Study; 3000-500 B.C. (Wil iamsport, 1932), p. 47.
[ 194 ] Finley, Odysseus, p. 57 (edição da Meridian).
[ 195 ] John M. Gul ick, “Debt Bondage in Malaya”, em Winks, Slavery, pp. 55-57.
[ 196 ] Greenidge, Slavery, p. 47. Ver também Watson, “Transactions in People”, em Watson, Slavery, pp. 225, 231-33, 244.
[ 197 ] Greenidge, Slavery, p. 30.
[ 198 ] Existe ampla literatura sobre o tema estupro e exploração sexual de mulheres. Ver: Susan Brownmil er, Against Our Wil : Men, Women and Rape (Nova York, 1975). Sobre estupro e violência marital, Wini Breines e Linda Gordon, “The New Scholarship on Family Violence”, SIGNS, vol. 8, nº 3
(Primavera de 1983), pp. 490-531; Jane R. Chapman e Margaret Gates (orgs.), Victimization of Women (Beverly Hil s, 1978); Murray Straus, Richard Gel es e Suzanne Steinmetz, Behind Closed Doors: Violence in the American Family (Garden City, 1980); Miriam F. Hirsch, Women and Violence (Nova York, 1981).
Sobre relações sexuas de servas e senhores, ver: Lawrence Stone, The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800, (Nova York, 1977); Edward Shorter, Making of the Modern Family (Nova York, 1975); Joan Scott e Louise Til y,
“Women’s Work and the Family in Nineteenth Century Europe”, Comparative Studies in Society and History, vol. 17 (1975), pp. 36-64; Joan Scott, Louise Til y e Miriam Cohen, Women’s Work and European Fertility Patterns”, Journal of Interdisciplinary History, vol. 6, nº 3 (1976), pp. 447-76; John R. Gil is, “Servants, Sexual Relations and the Risks of Il egitimacy in London, 1801-1900”, Feminist Studies, vol. 5, nº 1 (Primavera de 1979), pp. 142-73.
Minhas observações sobre o uso sexual de mulheres escravas por homens brancos são baseadas em extensas leituras de narrativas de escravos e fontes primárias sobre escravidão nos Estados Unidos. Ver Gerda Lerner, “Black Women in the United States”, em Lerner, The Majority Finds Its Past: Placing Women in History (Nova York, 1979), pp. 63-83 e 191, notas 15 e 16.
[ 199 ] Patterson observou que sociedades com mais escravos do sexo feminino do que masculino tendiam a ser aquelas em que a produção doméstica prevalecia. “Nessas sociedades, o senhor, como patria potestas, geralmente tinha poder para disciplinar até a morte todos os membros da casa, não apenas escravos, mas também esposas, filhos, parentes mais jovens e serviçais [...] [a escrava do sexo femino] podia ser morta impunemente, pois pertencia ‘até os ossos’ ao senhor, mas sob o poder do senhor isso acontecia com a mesma frequência com que ocorria às pessoas ‘livres’”. O. Patterson, Slavery and Social Death, p. 199.
[ 200 ] Citado em Jacquetta Hawkes e Sir Leonard Wool ey, History of Mankind, vol. I, “Prehistory and the Beginnings of Civilization” (Nova York, 1963), p. 475.
[ 201 ] G. R. Driver e John C. Miles, The Babylonian Laws, edited with Translation and Commentary, . 2 vols (Oxford, 1952, 1955), vol. I, p. 36, e “Chronological Table” para uma discussão sobre a datação do Código de Hamurabi. O reinado de Hamurabi é datado por Driver e Miles como 1711-1669 a.C.; 1801-1759 a.C. por Ungnad, e 1704-1662 a.C. por Boehl.
Citação em Driver-Miles, BL, vol. I, p. 45.
[ 202 ] Ibid., vol. I, p. 11.
[ 203 ] Ibid. , vol. I: pp. 212-13.
[ 204 ] HC § 116, ibid. , vol. II, p. 47. Comentário sobre a lei vol. I, pp. 215-19.
[ 205 ] HC § 117-§ 119, ibid. , vol. II, p. 49. Comentário, vol. I: pp. 217-20.
[ 206 ] M. Schorr, Urkunden des altbabylonischen Zivil-und Processrechts (Leipzig, 1913), nº 77, p. 121, como citado em Isaac Mendelsohn, Legal Aspects of Slavery, p. 23.
Ao comentarem sobre esse documento, Driver e Miles interpretam seu contexto da seguinte maneira: “uma esposa Belizumu parece ser uma naditum (sacerdotisa; G. L.), já que não teve filhos e comprou uma concubina para o marido”. Driver-Miles, BL, vol. I, p. 333, nota 1.
[ 207 ] The Holy Scriptures According to the Masoretic Text (Filadélfia, 1958), Gênesis 16:2
[ 208 ] Gênesis 30:3.
[ 209 ] Ibid. , 30:7.
[ 210 ] Ibid. , 30:23.
[ 211 ] HC § 144 e § 145, Driver-Miles, BL, vol. II, p. 57. Comentário, BL, vol. I, pp.
304-05.
[ 212 ] HC § 146, BL, vol. II, p. 57. Comentário, BL, vol. I, pp. 305-6. Driver e Miles comentam sobre os paralelos bíblicos (vol. I, p. 333, nota 8). Ver também o Capítulo 5 abaixo, notas 32-33.
[ 213 ] HC § 171, BL, vol. II, p. 67. Comentário, BL, vol. I, p. 324-34.
[ 214 ] Patterson, Slavery and Social Death, pp. 144-45. As informações sobre concubinato malaio são oriundas de Gul ick, em Winks, Slavery, pp. 55-7.
[ 215 ] Wilbur, “Slavery in China”, pp. 133, 163, 183. E também Patterson, Slavery and Social Death, pp. 141-42.
[ 216 ] Irene Silverblatt, “Andean Women in the Inca Empire”, Feminist Studies, vol. 4, nº 3 (Outubro de 1978), pp. 48-50.
[ 217 ] Sherry B. Ortner, “The Virgin and the State”, Feminist Studies, vol. 4, nº 3
(Outubro de 1978), pp. 19-36.
[ 218 ] Pul eyblank (nota 16 acima), pp. 203-4, 218.
[ 219 ] Ibid. , pp. 194-95.
[ 220 ] Wilbur, “Slavery in China”, p. 162.
[ 221 ] Jastrow, Luckenbil e Geers traduzem o termo como “mulheres prisioneiras”; Ebeling e Schorr, como “concubina”. Ehelohlf traduz o termo como
“mulher cercada” e observa: “Obviamente um termo para uma categoria de mulheres que ficava entre as senhoras livres e as mulheres escravas sem liberdade”. Todo o conteúdo acima é citado em Samuel I. Feigin, “The Captives in Cuneiform Inscriptions”, American Journal of Semitic Languages and Literatures, vol. 50, nº 4 (Julho de 1934), pp. 229-30.
[ 222 ] Ibid., p. 243.
[ 223 ] Se esse for o caso, como Driver e Miles interpretaram, de Belizumu ser uma sacerdotisa naditum, não lhe seria permitido ter filhos, mas supostamente teria relações sexuais com o marido usando métodos contraceptivos. O princípio de a esposa ter de se submeter a regras sexuais impostas pelo marido e pela sociedade permanece o mesmo em qualquer um dos casos.
[ 224 ] S. H. Butcher (trad.), The Odyssey of Homer (Londres, 1917), 23, pp. 38-39.
[ 225 ] Ibid., 1, p. 430.
[ 226 ] Ibid. , 22, pp. 418-20.
[ 227 ] Ibid. , 23, pp. 420-24.
[ 228 ] Ibid. , 23, pp. 445-72.
[ 229 ] Ibid. , 23, pp. 498-501.
[ 230 ] Peter Aaby, “Engels and Women”, Critique of Anthropology: Women’s Issue, vol. 3, nos 9 e 10 (1977), p. 39, parafraseando Meil assoux.
[ 231 ] Para uma discussão detalhada sobre como o fato de ter sido escravizado leva à perda de prestígio social e ao desprezo e à marginalização de pessoas escravizadas anteriomente, ver Patterson, Slavery and Social Death, pp. 249-50.
[ 232 ] Aristóteles, Política, vol. I, pp. 2-7.
[ 233 ] Li o Código de Hamurabi nas seguintes edições: G. R. Driver e John C.
Miles, The Babylonian Laws, 2 vols. (Oxford, vol. I, 1952; vol. II, 1955), doravante chamados de Driver-Miles, BL. “The Code of Hammurabi”, Theophile J. Meek (trad.) em James B. Pritchard (org.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (2. ed., Princeton, 1955). Consultei ainda: David H. Mül er, Die Gesetze Hammurabis und ihr Verhältnis zur mosaischen Gesetzgebung, (Viena, 1903); J. Kohler e F. E. Peiser, Hammurabi’s Gesetz (Leipzig, 1904), vol. I. Todas as citações textuais são de Driver-Miles.
“The Middle Assyrian Laws” (Theophile J. Meek, trad.), em Pritchard; “The Assyrian Code”, Daniel D. Luckenbil e F. W. Geers (trad.), em J. M. Powis Smith, The Origin and History of Hebrew Law (Chicago, 1931); G. R. Driver e John C.
Miles, The Assyrian Laws (Oxford, 1935); Todas as citações textuais são de Driver-Miles, AL.
“The Hittite Laws” (Albrecht Goetze, trad.), em Pritchard; todas as citações daquele texto. E, ainda, “The Hittite Code” (Arnold Walther, trad.), em Smith.
Johann Friedrich, Die Hethitischen Gesetze (Leiden, 1959). Citarei na íntegra, nas notas de rodapé, o texto das leis que considero importantes para minha argumentação e darei o número das referências para as demais.
[ 234 ] C. J. Gadd, CAH, vol. 2, pt. 1, cap. 5. Gadd cita a carta de um emissário do rei Zimri-Lim de Mari às tribos seminômades do Eufrates, dirigindo-se a alguns chefes tribais locais conforme segue: “Não existe um rei que seja poderoso sozinho. Dez ou quinze reis seguem Hamurabi, o homem da Babilônia, um número parecido segue Rim-Sin de Larsa, um número similar segue Ibapiel de Eshnunna, um número semelhante segue Amutpiel de Qatana, e vinte seguem Yarimlim de Yamkhad” (pp. 181-82). No entanto, foi Hamurabi quem derrotou Rim-Sin de Larsa e uma coalizão de Elam, Gutium, Assíria e Eshnunna, embora ele jamais pudesse derrotar a Assíria sozinho. Depois, também derrotou o rei Zimri-Lim de Mari.
[ 235 ] Minhas generalizações são baseadas em Smith, Origin, pp. 15-7, e Driver-Miles, BL, vol. I, pp. 9, 41-5.
[ 236 ] Smith, Origin, p. 3.
[ 237 ] W. B. Lambert, “Morals in Ancient Mesopotamia”, Vooraziatisch Egypt Genootschap “Ex Oriente Lux” Jaarbericht, nº 15 (1957-58), p. 187; Driver-Miles, AL, pp. 52-3. Ver também: J. J. Finkelstein, “Sex Offenses in Babylonian Laws”, Journal of the American Oriental Society, vol. 86 (1966).
[ 238 ] A. Leo Oppenheim, Ancient Mesopotamia (Chicago, 1964), p. 158
[ 239 ] Lambert, “Morals in Ancient Mesopotamia”, p. 187.
[ 240 ] A. S. Diamon argumenta que a lex talionis representa um avanço em relação ao conceito jurídico anterior de penas pecuniárias pagas ao parente mais próximo pelos danos causados. Ele cita, por exemplo, as Leis de Ur-Nammu (cerca de 300 anos antes da Lei de Hamurabi), nas quais todas as sanções para lesão pessoal eram pecuniárias. A punição corporal, de acordo com sua visão, se estabelece com o advento dos Estados fortes, que acaba com a autoridade de grupos litigantes similares para resolver disputas, sobretudo por meio do
pagamento de danos, transferindo essa autoridade para o Estado. Assim, os delitos passam a ser criminalizados, e, na ausência de prisões, morte e mutilação se tornam punições apropriadas. Ele explica a prevalência da punição pecuniária nos códigos de lei assíria e hitita como resultantes de uma “cultura mais simples”
e “em estágio mais atrasado” de desenvolvimento. A. S. Diamond, “An Eye for an Eye”, Iraq, vol. 19, pt. 2 (Outono de 1957), pp. 153, 155.
[ 241 ] Oppenheim, Ancient Mesopotamia, p. 87.
[ 242 ] Driver-Miles, BL, vol. I, pp. 174-76. A Lei CH § 50 determina juros de 33,5%
sobre o empréstimo de grãos e juros de 20% sobre o empréstimo de dinheiro.
Driver e Miles consideram esses valores razoavelmente representativos e apontam que as taxas de juros assírias também eram fixadas em 25-33,5%. (Essa referência está na p. 176.)
[ 243 ] CH § 117: “Se um homem sujeito à prisão nos termos de uma garantia tiver vendido sua esposa, seu filho ou sua filha, ou se (os) ceder como servos por três anos, eles terão que trabalhar na casa de quem os comprou ou aceitou como servos; no quarto ano, eles deverão ser liberados”. Driver-Miles, BL, vol. II, pp. 47-9. Ver também, abaixo, Capítulo Seis para uma discussão sobre esse assunto.
[ 244 ] Usei The Holy Scriptures According to the Masoretic Text (Filadélfia, 1917) como minha fonte de citações bíblicas (Êxodo, 21:2-11, Deuteronômio 15:12-15, 18). Para comentários, ver Driver-Miles, BL, vol. I, p. 221. Os registros de Nuzi confirmam o uso frequente de escravas como concubinas ou como esposas de escravos de seus mestres. No registro de Nuzi V 437, por exemplo, um homem oferece sua irmã a um homem que a dará como esposa a seu escravo. O contrato estabelece que, se o escravo marido dela morrer, ela deverá se casar com outro escravo marido, e se ele também morrer, ela deverá se casar com outro, e assim por diante, até o quarto escravo marido. Esse registro vem de uma sociedade na qual as mulheres da elite detinham grande poder delegado e mulheres de posses podiam fazer negócios e participar de transações comerciais que frequentemente envolviam vendas de escravos e de crianças. Cyrus H. Gordon, “The Status of Women Reflected in the Nuzi Tablets”, Zeitschrift für Assyriologie, Neue Folge, Band IX (1936), pp. 152, 160, 168.
[ 245 ] Smith, Origin, p. 20.
[ 246 ] CH § 195: “Se um filho atacar seu pai, deverá ter sua mão decepada”.
Driver-Miles, BL, vol. II, p. 77.
CH §§ 192-193: “Se o filho (adotado) de um mordomo ou o filho (adotado) de um epiceno disser ao pai que o trouxe ou à mãe que o trouxe ‘Você não é meu pai’ (ou) ‘Você não é minha mãe’, deverá ter sua língua arrancada”. Driver-Miles,
BL, vol. II, pp. 75-7. Nota: A palavra “epiceno” (devoto) aqui significa uma sacerdotisa Sal-zikrum. Essas sacerdotisas, como eram proibidas de engravidar, não raro adotavam crianças para assegurar seus serviços na velhice. Com isso fica claro que o “pai” e a “mãe” mencionados em CH § 192 não formam um casal, mas a referência serve a dois casos diferentes: um em que o filho foi adotado por um mordomo, outro em que o filho foi adotado por uma sacerdotisa Sal-zikrum.
Ver Driver-Miles, BL, vol. I, pp. 401-5.
[ 247 ] “Quem ferir seu pai ou sua mãe será igualmente morto” (Êxodo 21:15).
Comentário e referência à Lei Hebraica, Êxodo 21:15. Driver-Miles, BL, vol. I, pp.
407-8.
[ 248 ] CH § 155: “Se um homem tiver escolhido uma noiva para seu filho, e seu filho a tiver conhecido (carnalmente), (e se) portanto ele mesmo se deitar com ela e for pego, deverá ser amarrado e jogado na água” (Driver-Miles, BL, vol. II, p.
61).
CH § 156: “Se um homem tiver escolhido uma noiva para seu filho, e seu filho não a tiver conhecido (carnalmente), e ele mesmo se deitar com ela, deverá pagar a ela ½ mina de prata e então compensá-la por tudo que ela tiver trazido da casa de seu pai, e um marido atrás de seu coração pode se casar com ela”. Ibid.
[ 249 ] O assunto é controverso. Driver e Miles consideram o contrato essencial para tornar legítimo um casamento de classe alta. Outros o consideram opcional.
Para detalhes dessa discussão, ver nota 20 abaixo. Para uma discussão detalhada do contrato de casamento, ver Samuel Greengus, “The Old Babylonian Marriage Contract”, Journal of the American Oriental Society, vol. 89 (1969), pp.
505-32.
[ 250 ] CH § 162: “Se um homem tiver se casado (e) ela tiver lhe dado filhos, e se essa mulher tiver cumprido a (sua) sina, o pai dela não deverá reivindicar o dote (a esse homem); o dote dela pertence a seus filhos” (Driver-Miles, BL, vol. II, p.
63).
CH § 172: “Se o marido não tiver feito um acordo, deverão compensá-la por seu dote e ela deverá receber uma parte (equivalente à) de um herdeiro dos bens de seu marido. Se os filhos dela continuarem insistindo para que deixe a casa do marido, o juiz deverá determinar os fatos do caso dela e estabelecer uma pena para os filhos; essa mulher não deverá deixar a casa do marido. Se essa mulher decidir partir, ela deverá abrir mão dos presentes que recebeu de seu marido em função dos filhos; deverá levar o dote que trouxe da casa de seu pai, e um marido atrás de seu coração pode se casar com ela”. Ibid., p. 67.
LMA § 29: “Se uma mulher tiver sido recebida na casa de seu marido, seu dote ou qualquer coisa que ela tenha trazido da casa de seu pai ou que seu sogro tenha lhe dado na ocasião de sua entrada na família será reservado a seus filhos; os filhos de seu sogro não poderão reivindicar nada (disso). Mas se o marido viver (?) mais que ela, ele poderá dar a fração que quiser (desses bens) a seus filhos”.
Driver-Miles, AL, p. 399.
Comentário sobre CH § 162 e § 172, Driver-Miles, BL, vol. I, pp. 344, 351-52.
Comentário sobre a LMA § 29, Driver-Miles, AL, pp. 189-90, 205-11.
Agradeço a dra. Anne Kilmer, do Departamento de Estudos Orientais, Universidade da Califórnia, em Berkeley, por chamar minha atenção para o fato de a palavra “filhos”, aqui, significar tanto filhos quanto filhas, isto é, descendentes de ambos os sexos.
[ 251 ] CH § 173: “Se essa mulher, na casa em que foi recebida, tiver filhos do último marido, os filhos do ex-marido e do marido atual deverão dividir seu dote depois que essa mulher morrer”. Driver-Miles, BL, vol. II, p. 67.
CH § 174: “Se ela não tiver filhos do último marido, os filhos de seu primeiro marido ficarão com seu dote”. Ibid., p. 69.
Comentário, BL, vol. I, pp. 350-53.
[ 252 ] CH § 148: “Se um homem tiver casado com uma esposa e ela for acometida por uma febre intermitente, (e) ele decidir casar com outra mulher, ele poderá se casar (com essa mulher). Ele não se divorciará de sua esposa que foi acometida pela febre intermitente; ela deverá permanecer na casa que ele construiu, e ele deverá continuar sustentando essa esposa enquanto ela viver”.
CH § 149: “Se essa mulher não consentir em continuar morando na casa de seu marido, ele deverá compensá-la pelo dote que ela trouxe da casa do pai, e então ela poderá ir (embora)”. Driver-Miles, BL, vol. II, p. 59. Comentário, vol. I, pp. 309-11.
[ 253 ] CH § 163: “Se um homem tiver se casado com uma esposa e ela não tiver lhe dado filhos, (e) se essa mulher tiver cumprido o (seu) destino, se o sogro dele lhe der o presente de noiva que esse homem trouxe para a casa de seu sogro, o marido não poderá reivindicar o dote dessa mulher; o dote dela pertencerá à casa de seu pai”.
CH § 164: “Se esse sogro não lhe der o presente de noiva, ele deverá deduzir o presente de noiva do dote dela e entregar (o restante do) o dote dela à casa do pai dela”. Driver-Miles, BL, vol. II, p. 63. Comentário, vol. I, pp. 252-59.
[ 254 ] Driver e Miles argumentam que o dote é um substituto para a herança da mulher. Eles apontam para o fato de que uma sacerdotisa, se não tiver recebido
nenhum dote, tem direito a uma fração da herança do pai quando ele morrer. Isso pode significar “que toda mulher tem direito à herança se não tiver recebido nenhum seriktum”. BL, vol. I, p. 272.
Jack Goody, em Production and Reproduction: A Comparative Study of the Domestic Domain (Londres, 1976), relacionou o fenômeno ao que ele chama de
“devolução divergente”: a transmissão de propriedades para filhos de ambos os sexos, com estratificação do status. Goody considera a entrega do dote a uma mulher como o equivalente de sua parte da herança da família. Goody compara um sistema de “devolução divergente” de herança (prevalente em países da Eurásia) com o sistema africano, no qual o espólio de um homem falecido não é usado para manter a esposa sobrevivente. As mulheres não levam nenhum dote no casamento e não recebem nada quando o matrimônio acaba. Ver Goody, pp.
7, 11, 14-22.
Em uma comparação mundial de sociedades, mostrando a relação entre o trabalho da mulher e as estruturas do casamento, Esther Boserup fez descobertas parecidas com as de Goody. Esther Boserup, Women’s Role in Economic Development (Londres, 1970).
[ 255 ] A discussão está resumida em Driver-Miles, BL, vol. I, pp. 259-65. É
continuada e ampliada em Driver-Miles, AL, pp. 142-60. Para as visões de Koschaker, ver Paul Koschaker, Rechtsvergleichende Studien zur Gesetzgebung Hammurapis, Königs von Babylon (Leipzig, 1917), pp. 130-85. Todas as citações desse livro foram traduzidas por Gerda Lerner.
[ 256 ] Driver-Miles, BL, vol. I, p. 263, sobre contratos de casamento; Driver-Miles, AL, p. 145, sobre o preço de venda de escravas. Durante a primeira dinastia babilônica, o preço de noiva para uma garota livre variava entre 5 e 30 shekels; 5
shekels por uma garota escrava alforriada. Ao mesmo tempo, o preço de compra de uma garota escrava ficava entre 335/6 e 84 shekels. Driver-Miles, AL, p. 145.
Por outro lado, as tábuas de Nuzi mostram que “a soma média paga por uma garota com corpo funcional normal é de 40 shekels de prata, independentemente de [...] ser esposa ou empregada”. Gordon (nota 12, acima), p. 156.
[ 257 ] “Koschaker [...] suas visões parecem ter alcançado aceitação quase universal”, Driver-Miles, AL, p. 142.
[ 258 ] Koschaker, Rechtsvergleichende, pp. 150-99; Driver e Miles, AL, pp. 138-61. Sobre casamento beena, ver também Elizabeth Mary MacDonald, The Position of Women As Reflected in Semitic Codes of Law (Toronto, 1931), pp. 1-32, esp. pp. 5-10, 24.
[ 259 ] Koschaker, Rechtsvergleichende, pp. 182-83.
[ 260 ] Ibid., pp. 198-99. Koschaker também usa evidências filológicas para defender sua posição (pp. 153-54). Em sumério, a palavra “casamento” é diferente para homem e para mulher. Um homem “toma como esposa”, mas uma mulher é “recebida na casa do homem”. Koschaker argumenta que a palavra para casamento usada para os homens vem diretamente de “tomar, agarrar, tomar posse de”, e esse fato embasa sua interpretação do casamento por meio de compra. Embora em outra parte do texto haja consenso sobre o fato de que a mulher “é o objeto, não o sujeito do casamento”, Driver e Miles refutam Koschaker demonstrando que o verbo em questão significa “ter a posse”, sem contudo querer dizer “comprar”. Quando o objetivo tiver sido adquirido por meio de compra, diz-se que aquele que o adquire o “leva” ou “recebe” a coisa em questão.
Driver-Miles, BL, vol. I, pp. 263-64.
[ 261 ] Rivkah Harris descreve o papel das sacerdotisas naditum enclausuradas no templo do deus Samas na economia familiar. Uma sacerdotisa começou a trabalhar no templo e trouxe um dote com ela, o qual, após sua morte, foi devolvido à família. CH § 178 e CH § 179 informam que a sacerdotisa deve receber uma fração integral do espólio paterno igual àquela que um filho receberia, salvo se ela tiver recebido um dote. Se ela tiver recebido um dote, tem plenos direitos a ele durante sua vida, e pode entregá-lo a quem quiser. Driver-Miles, BL, vol. II, pp. 71-3.
Rivkah Harris comenta: “Pela primeira vez na história da Mesopotâmia há uma concentração de riqueza nas mãos de uma gama maior de indivíduos privados, além da contínua afluência do templo e do palácio. [...] Obviamente, seria do interesse dessas famílias impedir a distribuição de sua riqueza, o que ocorria quando uma moça se casava e levava seu dote para outra família”. A instituição da naditum “tinha a função econômica de manter uma moça solteira até a morte dela, quando então sua parte dos bens da família reverteria para a família”. Harris, Ancient Sippar: A Demographic Study of an Old-Babylonian City (1894-1595 B.C.) (Istambul, 1975), p. 307.
[ 262 ] Para uma discussão da função da troca de presentes como forma de criar uma rede de obrigações mútuas, ver Marcel Mauss, The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies (Londres, 1954). Para a ligação entre herança e classe, ver Goody, Production and Reproduction, cap. 8.
[ 263 ] Elena Cassin, “Pouvoir de la femme et structures familiales”, Revue d’Assyriologie et d’Archeologie Orientale, vol. 63, nº 2 (1969), p. 130 (tradução de Gerda Lerner).
[ 264 ] CH § 145: “Se o homem tiver se casado com uma sacerdotisa e ela não lhe der filhos, e então ele decidir se casar com uma irmã leiga, esse homem poderá se casar com uma irmã leiga (e) levá-la para sua casa; mas essa irmã leiga não estará em pé de igualdade com a sacerdotisa”. Driver e Miles, BL, vol. II, p. 57.
Comentário, vol. I, pp. 372-73. O fato de o CH §§ 145-147 mencionar o casamento de uma sacerdotisa naditum e não um casamento comum não altera o princípio de distinções de classe existente aqui entre a concubina ou a segunda esposa e a primeira esposa. Vale notar que a segunda esposa é considerada inferior com relação a classe e status, independentemente de ser uma mulher livre (como em CH § 145) ou uma escrava (CH §§ 146-47).
[ 265 ] CH § 146: “Se um homem tiver se casado com uma sacerdotisa e ela tiver dado ao marido uma escrava e essa escrava der filhos a ele, (se) então essa escrava se igualará à sua senhora, porque ela gerou filhos e sua senhora não poderá vendê-la; ela poderá colocar uma marca (de escrava) nela e contabilizá-la com as escravas”. CH § 147: “Se ela não tiver gerado filhos, sua senhora poderá vendê-la”. Driver e Miles, BL, vol. II, p. 57. Comentário, BL, vol. I, pp. 372-73.
[ 266 ] M. Schorr, Urkunden des altbabylonischen Zivil und Prozessrechts, Vonderasiatische Bibliothek (Leipzig), pp. 4-5, como citado em Driver-Miles, BL, vol. I, p. 373, nota 8.
[ 267 ] Gênesis 16:1-16; 21:1-21. Ver também Capítulo Seis abaixo.
[ 268 ] CH §§ 133-135, Driver-Miles, BL, vol. II, p. 53. Comentário, BL, vol. I, pp.
284-98. Oppenheim, Ancient Mesopotamia, p. 77.
[ 269 ] CH § 141: “Se uma senhora casada que vive na casa de um homem decidir sair (porta afora) e insistir em se comportar de forma tola, arruinando seu lar (e) menosprezando seu marido, poderá ser condenada e, se o marido disser que pretende se divorciar dela, poderá fazê-lo; ela não receberá nada como dinheiro resultante do divórcio em sua jornada. Se o marido disser que não pretende se divorciar dela, ele poderá se casar com outra mulher; essa mulher morará na casa do marido na condição de escrava”. Driver-Miles, BL, vol. II, pp.
56-57. Comentário, vol. I, pp. 299-301.
[ 270 ] Louis M. Epstein, Sex Laws and Customs in Judaism (Nova York, 1948), p.
194.
[ 271 ] Ibid. , pp. 194-95.
[ 272 ] CH § 129: “Se uma senhora casada for pega na cama com outro homem, eles deverão ser amarrados e jogados na água; se o marido quiser deixar sua
esposa viva, o rei deverá deixar seu servo vivo”. Driver-Miles, BL, vol. II, p. 51.
Comentário, vol. I, pp. 281-82.
[ 273 ] LMA § 15: “Se um homem tiver pego sua esposa com outro homem (e) for feita uma acusação (e) houver provas contra esse outro homem, o homem e a mulher deverão ser mortos; ninguém será responsabilizado pela morte. Se esse homem tiver sido pego e levado diante do rei ou dos juízes (e) houver uma acusação (e) provas contra ele, se o marido da mulher a matar, deverá matar o homem; (mas) se tiver cortado o nariz da esposa, deverá fazer do homem um eunuco e todo o seu rosto deverá ser mutilado. Ou, se ele deixar a esposa sair livre, o homem deverá sair livre”. Driver-Miles, AL, p. 389.
HL § 197: “Se um homem agarrar uma mulher nas montanhas, a culpa é do homem e ele será morto. Mas, se ele a agarrar em casa (na casa dela), a culpa é da mulher e ela será morta. Se o marido os encontrar, poderá matar os dois e não sofrerá nenhuma punição”.
HL § 198: “Se ele os levar até os portões do palácio e declarar: ‘Minha esposa não será morta’ e poupar a vida dela, deverá poupar também a vida do adúltero e marcá-lo na cabeça. Se ele disser: ‘Que ambos morram!’ [...] O rei poderá ordenar que sejam mortos, o rei poderá poupar a vida deles”. Goetze (trad.) em Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, p. 198.
Lei Hebraica. Ver Deuteronômio 22:23-28 e Levítico 20:10.
Comentário, Driver Miles, AL, pp. 36-50. Comentário sobre a Lei Bíblica referente a estupro em Epstein, Sex Laws, pp. 179-83.
[ 274 ] CH § 130: “Se um homem tiver posto fim aos lamentos de (?) uma senhora casada, que não conheceu um homem e que mora na casa de seu pai, e então se deitar com ela e eles forem pegos, esse homem deverá ser morto; a mulher sairá livre”. Driver-Miles, BL, vol. II, p. 53.
[ 275 ] CH § 131: “Se o marido de uma senhora casada a tiver acusado, mas ela não tiver sido pega com outro homem, ela deverá fazer um juramento pela vida de um deus e voltar para casa”. Ibid.
CH § 132: “Se for apontado um dedo para a senhora casada com relação a outro homem e ela não tiver sido pega com o outro homem, ela deverá pular no rio sagrado pelo marido”. Ibid.
Comentário, Driver e Miles, BL, vol. I, pp. 282-84; Epstein, Sex Laws, pp. 196-201.
Vale notar que, caso o marido não pegue a dupla de adúlteros no flagra, não poderá punir o homem, já que terá apenas provas circunstanciais contra ele. Mas ele poderá punir a esposa com base nas mesmas provas circunstanciais, forçando-a a prestar um juramento público, ou, no caso descrito em CH § 132,
forçando-a a passar pelo teste. Driver e Miles, na referência citada acima, chamam a atenção para esse exemplo de um duplo padrão de julgamento. Em seu comentário sobre a prática de testar usando a água, Driver e Miles afirmam que não se sabe como ela foi determinada. Algumas autoridades acham que a inocência de uma pessoa é provada se ela boiar, e que ela será culpada se se afogar. Se for assim, Driver e Miles apontam que isso seria o oposto da prática semita, que também prevaleceu na Europa na era cristã, segundo a qual a água aceitaria o inocente e rejeitaria o culpado. Portanto, se a vítima se afogasse, isso supostamente provaria sua inocência; se boiasse, seria prova de sua culpa. Os objetivos de justiça eram cumpridos, pelo menos em alguns casos historicamente verificáveis, amarrando-se cordas à vítima – aquelas cuja inocência fosse provada por seu afogamento seriam resgatadas e puxadas de volta em segurança. Ver Driver-Miles, AL, pp. 86-106.
[ 276 ] CH § 138: “Se um homem quiser se divorciar de sua primeira esposa que não lhe deu filhos, deverá dar a ela dinheiro equivalente ao valor do presente de noiva dela e compensá-la pelo dote que ela trouxe da casa de seu pai, e (então) se divorciar dela”.
CH § 139: “Se não houver presente de noiva, ele deverá dar a ela 1 mina de prata como dinheiro pelo divórcio”.
CH § 140: “Se (ele for) um servo, ele deverá dar a ela 1/3 de mina de prata”.
Driver-Miles, BL, vol. II, p. 55.
Comentário, Driver-Miles, BL, vol. I, pp. 290-98. Driver e Miles citam documentos legais da Antiga Assíria e da Antiga Babilônia que afirmam que “o marido diz à esposa: ‘Você não é minha esposa’, dá a ela o dinheiro resultante do divórcio e a deixa”. Às vezes, ele oficializa o divórcio cortando as franjas das vestes dela. Ibid., p. 291.
[ 277 ] As duas leis, Driver-Miles, BL, vol. II, p. 57.
[ 278 ] CH § 157: “Se um homem após (a morte de) seu pai deitar-se com sua mãe, os dois deverão ser queimados”. Ibid., p. 61.
CH § 154: “Se um homem conhecer sua irmã (carnalmente), o homem deverá ser banido da cidade”. Ibid., p. 61.
Para CH § 155 e CH § 156, ver nota 16 acima. Comentário, Driver-Miles, BL, vol. I, pp. 318-20.
[ 279 ] LMA § 55, texto na íntegra, Driver-Miles, AL, p. 423. Comentário, AL, pp.
52-61. Para uma comparação com a Lei Hebraica, ver Êxodo 22:16-17.
Finkelstein em “Sex Offenses” menciona um julgamento em Nipur no qual um homem estuprou uma escrava em um celeiro e negou o crime, que foi confirmado
por testemunhas. Ele foi considerado culpado e teve que pagar ao dono da escrava ½ mina de prata. Não se discutiu durante o julgamento se a escrava havia sido estuprada ou se havia consentido com o ato. Finkelstein comenta: “A garota escrava não é considerada uma pessoa aos olhos da lei” (pp. 359-60).
[ 280 ] Finkelstein comenta a seguir sobre a LMA § 155: “Podemos por certo ignorar – como parte da ‘crueldade calculada’ tipicamente assíria – a determinação seguinte, segundo a qual a esposa do agressor deve ser entregue ao pai da garota estuprada para degradação (sexual) [...]” (p. 357). Não se apresenta nenhum tipo de evidência a esse conselheiro para que ignore a parte da lei que ofende a sensibilidade contemporânea.
Ver Claudio Saporetti, “The Status of Women in the Middle Assyrian Period”, Monographs on the Ancient Near East, vol. 2, fascículo 1 (Malibu, 1979), pp. 1-20, em especial p. 10, para uma interpretação da LMA § 55 que não minimize sua natureza repressiva e apresente exemplos de contratos particulares que mostrem o status inferior das mulheres de classes mais baixas. Saporetti mostra em detalhes a “dependência total e absoluta da mulher” em relação ao pai e ao marido (p. 13).
[ 281 ] LMA § 56: “Se uma virgem se entregar a um homem, o homem deverá jurar (para tanto, e) sua esposa não será tocada. O sedutor deverá dar ‘ao terceiro’ o preço de uma virgem (em) prata (e) o pai tratará (sua) filha conforme lhe aprouver”. Driver-Miles, AL, pp. 423-25.
[ 282 ] Comentário sobre o texto, AL, p. 425. “A punição da esposa de que trata esta seção é aquela que um marido pode infligir em virtude de sua autoridade doméstica ou controle marital [...] o código babilônico não tem seções que tratem expressamente do poder arbitrário que claramente permite que um marido, em certos casos, aja contra sua esposa...” (p. 292).
[ 283 ] CH §§ 171 e 172. Driver-Miles, BL, vol. II, p. 67. Comentário, BL, vol. I, pp.
334-35.
[ 284 ] LMA § 46: “Se uma mulher cujo marido faleceu não deixar sua casa após a morte do marido, (e) se o marido não tiver lhe deixado nada por escrito, ela deverá morar em uma casa que pertença aos seus filhos, no lugar que escolher; os filhos de seu marido deverão sustentá-la; eles deverão se comprometer a cuidar de (fornecer) sua comida e sua bebida como se ela fosse a noiva que amam. Se ela for a segunda (esposa e) não tiver filhos, deverá morar com um (dos filhos de seu marido e) eles deverão cuidar de seu sustento juntos; se ela tiver filhos (e) os filhos da ex(-esposa) não concordarem em sustentá-la, ela deverá morar em uma casa que pertença aos próprios filhos, onde escolher, (e) os
próprios filhos também deverão cuidar de seu sustento, e ela deverá trabalhar para eles. Mas se entre seus filhos (houver um) que a tomou (como cônjuge), esse filho que a tomou (como esposa) certamente deverá cuidar de seu sustento, e os filhos dela não precisarão cuidar de seu sustento”. Driver e Miles, AL, p. 415.
Vale notar que se espera que a mãe viúva, em troca de ser sustentada pelos filhos, “trabalhe para eles”, o que supostamente significa fazer os trabalhos domésticos e se encarregar da produção têxtil.
A antiga prática semita é discutida em Driver-Miles, BL, vol. I, p. 321. Para exemplos dela, ver 2 Samuel 16:21-22 e 1 Reis 2:21-22.
[ 285 ] LMA §§ 30, 31. Driver-Miles, AL, pp. 399-401.
LMA § 33: “(Se) uma mulher ainda morar na casa de seu pai (e) seu marido tiver falecido e (ela) tiver filhos, (ela deverá morar em uma) casa (que pertença a eles, onde escolher. Se) ela não tiver nenhum (filho, seu sogro deverá dar essa mulher) a qualquer um (de seus filhos), o que ele preferir [...] ou, se assim quiser, ele deverá dar essa mulher como cônjuge ao sogro dela. Se o marido dela e o sogro dela estiverem (de fato) mortos e ela não tiver nenhum filho, ela se torna (por lei) viúva; ela deverá ir para onde quiser” ( AL, p. 401). Vale notar que essa lei é aplicável apenas a certa classe de viúva, ou seja, aquela que, embora fosse casada, ainda morava na casa de seu pai. Isso em geral se refere apenas a uma noiva criança. Nesse caso, tanto o pai quanto o sogro dela têm o direito de dispor dela em um casamento em regime de levirato. Saporetti discute a mulher viúva na sociedade assíria, com certa atenção ao caso especial e excepcional da viúva almattu, que era uma mulher livre sem filhos (a menos que fossem menores de idade) cujo sogro também havia morrido, o que a deixava sem tutela. Essa mulher poderia morar com outra pessoa, levar suas posses com ela e, eventualmente, se tornar uma esposa legítima. Também poderia ser considerada chefe de uma família. Saporetti enfatiza que essa posição é excepcional e contrasta com a posição geralmente degradante das viúvas na antiga sociedade do Oriente Próximo. Saporetti, “The Status of Women...”, pp. 17-20.
[ 286 ] Louis M. Epstein, Marriage Laws in the Bible and the Talmud (Cambridge, Mass., 1942), p. 77.
[ 287 ] Ibid. , p. 79.
[ 288 ] CH §§ 209-214. Driver-Miles, BL, vol. II, p. 79. Comentário, BL, vol. I, pp.
413-16. Os autores comentam que essas leis fazem distinções de classe entre as mulheres e que a pessoa a receber o pagamento “pela perda do filho não nascido
[...] deve ser o marido ou senhor” (p. 415).
[ 289 ] As leis LMA relevantes são:
LMA § 21: “Se um homem tiver agredido uma senhora grávida e a feito perder o fruto que carregava em seu ventre (e) se houver acusação e prova contra ele, ele deverá pagar 2 talentos e 30 minas de chumbo; ele deverá ser golpeado 50 vezes com varas (e) deverá trabalhar para o rei durante 1 mês inteiro”. Driver-Miles, AL, p. 393.
LMA § 50, citada no texto. AL, p. 419.
LMA § 51: “Se um homem tiver agredido uma mulher casada que não cria seus filhos e a feito perder o fruto de seu ventre, esta punição (será infligida): ele pagará 2 talentos de chumbo”. AL, p. 421.
LMA § 52: “Se um homem tiver agredido uma prostituta e a feito perder o fruto de seu ventre, ele deverá receber o mesmo número de golpes, (e assim) ele pagará (com base no princípio de) uma vida (com outra vida)”. AL, p. 421. Cada uma dessas leis faz referência a uma classe diferente de mulheres: LMA § 21 a uma senhora, LMA § 50 à esposa de um burguês, LMA § 51 a uma mulher que por motivo de saúde frágil ou por ter vendido seus filhos não os cria, portanto não se considera que ela tenha sofrido uma perda tão grande quanto as outras mulheres; e a LMA § 52, uma prostituta. No caso desta última, as crianças tinham grande valor, pois eram criadas para serem vendidas ou se tornarem prostitutas e ajudavam a sustentar uma mulher que não tinha um homem provedor.
Comentário, AL, pp. 106-15.
[ 290 ] Ver nota 57, LMA § 21 acima, para o texto da lei. Driver e Miles, AL, p. 108:
“[...] a agressão, neste caso, é considerada, em certa medida, um crime contra o Estado [...]”.
[ 291 ] HL § 17 (versão anterior): “Se alguém fizer com que uma mulher livre tenha um aborto espontâneo, se (esse) for o 10º mês, deverá pagar 10 shekels de prata, se (esse) for o 5º mês, deverá pagar 5 shekels de prata e penhorar seus bens como garantia”.
HL § 17 (versão posterior): “Se alguém fizer com que uma mulher livre tenha um aborto espontâneo, deverá pagar 20 shekels de prata”.
HL § 18 (versão anterior): “Se alguém fizer com que uma escrava tenha um aborto espontâneo, se (esse) for o 10º mês, deverá pagar 5 shekels de prata”.
HL § 18 (versão posterior): “Se alguém fizer com que uma mulher livre tenha um aborto espontâneo, deverá pagar 10 shekels de prata”. Albrecht Goetze (trad.) em Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, p. 190.
[ 292 ] Êxodo 21:22.
[ 293 ] É por isso que, de acordo com a lex talionis, a esposa ou a filha do agressor deve sofrer a mesma punição, e é por isso que, na Lei Hebraica, o
mesmo princípio é invocado se a capacidade de gerar filhos de uma mãe tiver sido afetada.
[ 294 ] LMA § 53. Driver-Miles, AL, p. 421, Comentário, AL, pp. 115-17.
[ 295 ] Ibid. , p. 116.
[ 296 ] Ibid., p. 117.
[ 297 ] Encyclopedia Americana (Danbury, 1979), vol. 22, p. 169.
[ 298 ] New Encyclopaedia Britannica (Chicago, 1979), vol. 15, p. 76.
[ 299 ] Iwan Bloch, Die Prostitution, vol. 1 (Berlim, 1912), pp. 70-1. Citação traduzida por Gerda Lerner.
[ 300 ] Frederick Engels, Origin of the Family, Private Property and the State, (Nova York, 1970), pp. 129-30. A referência de Engels à prostituição no templo é baseada em sua aceitação incondicional do relato de Heródoto. Ver página 129.
[ 301 ] Ibid. , pp. 138-39.
[ 302 ] New Encyclopaedia Britannica, vol. 25, p. 76; Encyclopedia Americana, vol.
22, pp. 672-74; Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 13 (Nova York, 1934), p.
553; Vern e Bonnie Bul ough, The History of Prostitution: An Il ustrated Social History (Nova York, 1978), pp. 19-20; Bloch, Die Prostitution, vol. 1, pp. 70-1; F.
Henriques, Prostitution and Society (Londres, 1962), cap. 1; Wil iam Sanger, A History of Prostitution (Nova York, 1858), pp. 40-1; Geoffrey May, “Prostitution”, Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 13, pp. 553-59; Max Ebert, Real exicon der Vorgeschichte, vol. 5 (Berlim, 1926), p. 323; Erich Ebeling e Bruno Meissner, Real exicon der Assyriologie (Berlim, 1971); artigo “Geschlechtsmoral”, artigo
“Hierodulen”, vol. 4, pp. 223, 391-93.
[ 303 ] Marija Alseikaite Gimbutas, Goddesses and Gods of Old Europe (Berkeley, 1982); Edwin O. James, The Cult of the Mother Goddess: An Archaeological and Documentary Study (Londres, 1959). Ver Capítulo Nove para uma discussão mais ampla sobre esse assunto.
[ 304 ] A. Leo Oppenheim, Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilization (Chicago, 1964), pp. 187-92.
[ 305 ] Vern L. Bul ough, “Attitudes Toward Deviant Sex in Ancient Mesopotamia”, em Vern L. Bul ough, Sex, Society and History (Nova York, 1976), pp. 17-36, faz a mesma observação (pp. 22-3).
[ 306 ] Para a discussão sobre o Casamento Sagrado, ver Samuel Noah Kramer, The Sacred Marriage Rite: Aspects of Faith, Myth and Ritual in Ancient Sumer
(Bloomington, 1969), p. 59; Thorkild Jacobsen, Toward the Image of Tammuz and Other Essays on Mesopotamian History and Culture, org. Wil iam L. Moran (Cambridge, Mass., 1970); Judith Ochshorn, The Female Experience and the Nature of the Divine (Bloomington, 1981), p. 124. E ainda W. G. Lambert, “Morals in Ancient Mesopotamia”, Vooraziatisch Egypt Genootschap, “Ex Oriente Lux” , Jaarbericht, nº 15 (1957-58), p. 195.
[ 307 ] As duas citações, Kramer, Sacred Marriage Rite, p. 59.
[ 308 ] Thorkild Jacobsen, Toward the Image of Tammuz, pp. 73-101.
[ 309 ] Meus comentários sobre as servas religiosas são baseados principalmente no minucioso estudo de Johannes Renger, “Untersuchungen zum Priestertum in der altbabylonischen Zeit”, Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archeologie, Neue Folge, Band 24 (Berlim, 1967) 1. Teil, pp. 110-88. Doravante chamado de ZA.
[ 310 ] G. R. Driver e J. C. Miles, The Babylonian Laws, 2 vols. (Londres: vol. 1, 1952; vol. 2, 1955). Doravante chamadas de BL. Eles acham que a naditum, embora não fosse casada, talvez não tivesse feito voto de castidade, “porque é provável que ela, em alguns templos, por exemplo, no de Ishtar, fosse uma prostituta sagrada” ( BL, vol. I, p. 366).
[ 311 ] BL, vol. I, p. 359.
[ 312 ] O estudo mais completo sobre essas mulheres é o de Rivkah Harris, Ancient Sippar: A Demographic Study of an Old-Babylonian City (1894-1595 B.C.) (Istambul, 1975). Referência aos seus números, p. 304. Ver também Renger, nota 13 acima, pp. 156-68. Renger, Driver e Miles, e Benno Landsberger consideram as naditu como sacerdotisas, mas Harris não vê evidências de cumprimento de nenhuma função religiosa por parte delas. Ela diz que a posição das naditu era a de “nora do Deus Samas e de sua noiva Aja”. Como tal, realizavam todos os serviços rituais comuns às noras. Harris considera que elas tinham uma função
“religiosa”, já que dedicavam suas vidas a servir ao deus. Ver Harris, pp. 308-09.
[ 313 ] Ibid., p. 285.
[ 314 ] BL, vol. II, p. 45. Comentário, BL, I, pp. 205-06. Isso mostra ainda, de modo casual, que os contemporâneos viam os serviços sexuais religiosos prestados pelas sacerdotisas de forma bem diferente da prostituição comercial. Renger comenta o seguinte sobre essa passagem: “Os interesses do Estado, expressos na prática legal e no Código de Hamurabi, serviam para garantir a independência financeira de uma naditu, para evitar que ela se voltasse para a prostituição por
não ter renda suficiente. Também é por isso que ela vivia no gagum (claustro)”.
Renger, ZA, p. 156. Tradução de Gerda Lerner.
[ 315 ] BL, II, p. 73. Comentário, BL, vol. I, pp. 369-70. Os autores traduzem kulmashitum como “hierodulo” e qadishtum como “devota”.
[ 316 ] Harris, Ancient Sippar, p. 327. Alguns orientalistas não fazem distinção entre esses dois tipos de servos do tempo e traduzem ambos como “hierodulo”, descrevendo-os como aqueles envolvidos com “prostituição sagrada”. Driver e Miles apontam que não há evidências a favor ou contra essa interpretação, mas que há casos em que se faz referência à própria deusa Ishtar como qadishtum.
BL, vol. I, pp. 369-70. Para exemplos de diferentes traduções do termo qadishtu, ver Paul Koschaker, Rechtsvergleichende Studien zur Gesetzgebung Hammurapis, Königs von Babylon (Leipzig, 1917), p. 189, nota; BL, vol. I, p. 369.
[ 317 ] Heródoto, Historia (trad. A. D. Godley), Loeb Classical Library (Cambridge, Mass., 1920), livro I, p. 199.
[ 318 ] BL, vol. I, pp. 361-62.
[ 319 ] Ibid., pp. 368-69.
[ 320 ] “Old Babylonian Proto-Lu list”, B. Landsberger, E. Reiner, M. Civil (orgs.), Materials for the Sumerian Lexicon, vol. 12 (Roma, 1969), pp. 58-9. Agradeço muito à dra. Anne D. Kilmer do Departamento de Estudos do Oriente Próximo, Universidade da Califórnia, Berkeley, por sua ajuda ao me indicar essas listas e traduzi-las.
[ 321 ] Ibid., Canonical Series lu-sha, pp. 104-5.
[ 322 ] Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago (Chicago, 1968), vol. 6, pp. 101-2.
[ 323 ] “The Epic of Gilgamesh”, em James B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (2. ed., Princeton, 1955), p. 74.
[ 324 ] Todas as citações de ibid., pp. 74-5.
[ 325 ] C. J. Gadd, “Some Contributions to the Gilgamesh Epic”, Iraq, vol. 28, parte II (Outono de 1966), citação, p. 108.
[ 326 ] Para um tratamento detalhado do assunto, ver Capítulo Seis.
[ 327 ] Minhas interpretações das Leis Médio-Assírias, doravante chamadas de LMA, são baseadas em extensas leituras de todas as diversas traduções existentes de compilações de Leis Mesopotâmicas. Para LMA, li “The Middle Assyrian Laws”, Theophile J. Meek (trad.) em James B. Pritchard (org.), Ancient
Near Eastern Texts, 2. ed.; D. D. Luckenbil e F. W. Geers (trad.) em J. M. Powis Smith, The Origin and History of Hebrew Law (Chicago, 1931); G. R. Driver e J. C.
Miles, The Assyrian Laws (Oxford, 1935). Todas as citações textuais são de Driver-Miles, AL. A desclassificação da prostituta no Código Assírio foi mencionada em uma nota de rodapé de Isaac Mendelsohn em seu estudo sobre a escravidão. Ele citou vários exemplos de textos legais que mostram que a prostituição era uma instituição reconhecida e estabelecida no Antigo Oriente Próximo. “Embora não fosse uma profissão muito digna, nenhuma desonra estava relacionada à pessoa que a exercia. A prostituta profissional era uma mulher independente, nascida livre, e a lei protegia sua posição econômica. [...] A degradação da prostituta para o nível de escrava na Assíria e na Neobabilônia se deu devido ao fato de a maioria das prostitutas daquele tempo serem mulheres escravas alugadas por seus donos para clientes particulares ou donos de estabelecimentos públicos”. Isaac Mendelsohn, Slavery in the Ancient Near East (Nova York, 1949), pp. 131-32, nota 57.
[ 328 ] Todas as citações abaixo da LMA § 40 são de Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, p. 183.
[ 329 ] Driver e Miles, AL, p. 134.
[ 330 ] Ibid.
[ 331 ] Em Pritchard, o termo awilum é traduzido como “homens livres/proprietários de terras”, mas outros tradutores usam o termo “burguês” e indicam que também pode significar “nobre”. Portanto, tanto homens de classe alta quanto homens de classe média que tinham posses estavam abrangidos nesse termo.
[ 332 ] Podemos aceitar sem questionar a suposição implícita de que todo homem saberia dizer quem era prostituta e quem era uma mulher respeitável se as visse sem véu.
[ 333 ] Referência à oferenda de vulva é encontrada em Erich Ebeling, “Quel en zur Kenntnis der babylonischen Religion”, Mitteilungen der vorderasiatischen Gesel schaft (E. V.) 23. Jahrgang (Leipzig, 1918), parte II, p. 12. (Tradução de Gerda Lerner.)
[ 334 ] Ibid.
[ 335 ] Heinrich Zimmern, “Babylonische Hymnen und Gebete in Auswahl”, Der Alte Orient, 7. Jahrgang, nº 3 (Leipzig, 1905), citações, pp. 20-1.
[ 336 ] Wil iam Foxwel Albright, From the Stone Age to Christianity: Monotheism and the Historical Process (Baltimore, 1957); Henri Frankfort et al., Before Philosophy (Baltimore, 1963); John Gray, Near Eastern Mythology (Londres, 1969); Jane El en Harrison, Mythology (Nova York, 1963); Thorkild Jacobsen, Toward the Image of Tammuz and Other Essays on Mesopotamian History and Culture (Cambridge, Mass., 1970); Walter Jayne, The Healing Gods of Ancient Civilizations (New Haven, 1925); Alfred Jeremias, Handbuch der altorientalischen Geisteskultur (Berlim, 1929); E. O. James, The Ancient Gods: The History and Diffusion of Religion in the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean (Londres, 1960); Samuel Noah Kramer, The Sacred Marriage Rite: Aspects of Faith, Myth and Ritual in Ancient Sumer (Bloomington, 1969); Samuel Noah Kramer, Sumerian Mythology: A Study of Spiritual and Literary Achievement in the Third Mil ennium B.C. (Nova York, 1961); Theophile J. Meeks, Hebrew Origins (Nova York, 1960); H. W. F. Saggs, The Encounter with the Divine in Mesopotamia and Israel (Londres, 1978); Arthur Ungnad, Die Religion der Babylonier und Assyrer (Jena, 1921); Hugo Winckler, Himmels und Weltenbild der Babylonier (Leipzig, 1901).
[ 337 ] Sigmund Freud, Moses and Monotheism: Three Essays em Complete Psychological Works (Londres, 1963-1974), vol. 23, pp. 1-137; Erich Fromm, The Forgotten Language: An Introduction to the Understanding of Dreams, Fairy Tales and Myths (Nova York, 1951); Robert Graves, The White Goddess: A Historical Grammar of Poetic Myth (Nova York, 1966); Erich Neumann, The Great Mother: An Analysis of the Archetype (Princeton, 1963).
[ 338 ] Judith Ochshorn, The Female Experience and the Nature of the Divine (Bloomington, 1981); Carole Ochs, Behind the Sex of God (Boston, 1977); Peggy Reeves Sanday, Female Power and Male Dominance: On the Origins of Sexual Inequality (Cambridge, Ingl., 1981); Merlin Stone, When God Was a Woman (Nova York, 1976).
[ 339 ] Thorkild Jacobsen, “Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia”, Journal of Near Eastern Studies, vol. 2, nº 3 (Julho de 1943), pp. 162, 165; para alguns exemplos desse tipo de correspondência entre mito e realidade social, ver Saggs, Encounter, pp. 167-68.
[ 340 ] Para uma discussão detalhada e visão geral, ver Edwin O. James, The Cult of Mother-Goddess: An Archaeological and Documentary Study (Londres, 1959), pp. 228-53.
[ 341 ] Sanday, Female Power, p. 57.
[ 342 ] Ibid., p. 73.
[ 343 ] Ibid., pp. 61, 66.
[ 344 ] É possível fazer muitas objeções a um salto metodológico desses, principalmente porque implica suposições sobre causa e efeito na história, algo bastante difícil de provar. Sabemos pouco, se é que sabemos algo, sobre as práticas de criação de filhos na Mesopotâmia, e fazer um traçado histórico cuidadoso das variações de caça maior e menor vai além do escopo deste livro.
Ainda assim, a amostragem de Sanday oferece evidências interculturais de padrões similares de mudança nos mitos da criação em diversas culturas e, portanto, reforça a minha tese.
[ 345 ] Marija Gimbutas, Goddesses and Gods of Old Europe (Berkeley, 1982), p.
18. Ver também James, Mother-Goddess, pp. 1-46. Stone, When God Was a Woman, discute em detalhes a longa história de adoração à Grande Deusa.
[ 346 ] E. O. James, The Ancient Gods, p. 47.
[ 347 ] A. L. Oppenheim, Ancient Mesopotamia (Chicago, 1964), cap. 4.
[ 348 ] Ver mito de “Atrahasis”, em James B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton, 1950), p. 100.
[ 349 ] Para embasar essa explicação, ver, por exemplo, James, Mother-Goddess, p. 228. “Com o estabelecimento da agricultura e da domesticação de manadas e rebanhos, no entanto, o papel do homem no processo de procriação tornou-se mais aparente e vital conforme os fatos fisiológicos referentes à paternidade passaram a ser mais bem compreendidos e reconhecidos. Então, um parceiro do sexo masculino passou a ser designado para a deusa-mãe, seja como seu filho e amante ou como irmão e marido. Entretanto, embora ele fosse o criador da vida, ocupava uma posição subordinada a ela, sendo, de fato, uma figura secundária no culto.” Ver também Elizabeth Fisher, Woman’s Creation: Sexual Evolution and the Shaping of Society (Garden City, 1979), cap. 9.
[ 350 ] James, Mother-Goddess, p. 228; E. O. James, Myth and Ritual in the Ancient Near East (Londres, 1958), pp. 114-17.
[ 351 ] Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, pp. 60-1.
[ 352 ] Ibid., p. 74.
[ 353 ] Georges Contenau, Everyday Life in Babylon and Assyria (Londres, 1954), p. 197. Ver também Jeremias, Geisteskultur, pp. 33-4.
[ 354 ] A palavra suméria anki significa “universo”.
[ 355 ] Samuel Noah Kramer, “Poets and Psalmists; Goddesses and Theologians: Literary, Religious and Anthropological Aspects of the Legacy of Sumer”, em Denise Schmandt-Besserat, The Legacy of Sumer: Invited Lectures on the Middle East at the University of Texas at Austin (Malibu, 1976), p. 14.
[ 356 ] Edward Chiera, They Wrote on Clay (Chicago, 1938), pp. 125-27.
[ 357 ] Jacobsen, Tammuz, pp. 20-1.
[ 358 ] James, Ancient Gods, pp. 87-90.
[ 359 ] James, Mother-Goddess, p. 241.
[ 360 ] Shoshana Bin-Nun, The Tawananna in the Hittite Kingdom (Heidelberg, 1975), pp. 158-59. Ver também O. R. Gurney, “The Hittites”, em Arthur Cotterel , The Encyclopaedia of Ancient Civilizations (Nova York, 1980), pp. 111-17. Hatusil I deixou um testamento por escrito que documenta essas mudanças históricas.
[ 361 ] Carol F. Justus, “Indo-Europeanization of Myth and Syntax in Anatolian Hittite: Dating of Texts As an Index”, Journal of Indo-European Studies, vol. 2
(1983), pp. 59-103. Referência a Telepinu, pp. 63, 74.
[ 362 ] Ibid., p. 63.
[ 363 ] Meu argumento aqui é totalmente baseado no trabalho de Justus. Ver ibid., pp. 67-92.
[ 364 ] Ibid., pp. 91-2.
[ 365 ] Ela é bastante discutida e os mitos relacionados a ela são analisados de maneira interessante em cada trabalho importante sobre a religião mesopotâmica.
Ver, entre outros, Gray, Near Eastern Mythology; Wil iam Hal o, The Exaltation of Inanna (New Haven, 1968); Jacobsen, Tammuz; James, Mother-Goddess; James, Myth and Ritual; Morris Jastrow, The Civilization of Babylon and Assyria (Filadélfia, 1915); Jayne, Healing Gods; Jeremias, Geisteskultur; Kramer, Mythology; Bruno Meissner, Babylonien and Assyrien, 2 vols. (Heidelberg, 1920); Ochshorn, Female Experience and the Divine; Stone, When God Was a Woman; Merlin Stone, Ancient Mirrors of Womanhood: Our Goddess and Heroine Heritage, 2 vols. (Nova York, 1979); Diane Wolkstein e Samuel Noah Kramer, Inanna: Queen of Heaven and Earth (Nova York, 1983).
[ 366 ] Meus comentários sobre a história do Pentateuco são baseados no artigo
“Pentateuch” em Encyclopaedia Judaica (Jerusalém, 1978, 4ª impressão), vol. 13, pp. 231-64. Para minhas generalizações subsequentes e minha interpretação de passagens específicas, eu me baseei no seguinte: E. A. Speiser, The Anchor Bible: Genesis (Garden City, 1964); Nahum M. Sarna, Understanding Genesis
(Nova York, 1966); Gerhard von Rad, Genesis: A Commentary, tradução da edição alemã (Filadélfia, 1961); Theophile J. Meek, Hebrew Origins (Nova York, 1960); Wil iam F. Albright, From the Stone Age to Christianity: Monotheism and the Historical Process (Baltimore, 1940); Wil iam F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel (Baltimore, 1956); Roland de Vaux, O.P., Ancient Israel: Its Life and Institutions (Nova York, 1961); edição em brochura, 2 vols. (Nova York, 1965).
[ 367 ] De Vaux, Ancient Israel, vol. I, pp. 4-14.
[ 368 ] Minhas generalizações são baseadas no artigo “History”, em Encyclopaedia Judaica, vol. 8, pp. 571-74; Tykva Frymer-Kensky, “Patriarchal Family Relationships and Near Eastern Law”, Biblical Archaeologist, vol. 44, nº 4
(Outono de 1981).
[ 369 ] Oxford Bible Atlas, org. Herbert G. May com o auxílio de R. W. Hamilton e G. N. S. Hunt (Londres, 1962), pp. 15-7.
[ 370 ] Minha interpretação aqui é baseada em Carol Meyers, “The Roots of Restriction: Women in Early Israel”, Biblical Archaeologist, vol. 41, nº 3 (Setembro de 1978), pp. 95-8. Seu argumento está alinhado com as posições teóricas presumidas por Aaby e Sanday.
[ 371 ] As outras quatro se referem apenas a Miriam, Huldah, Noadiah como
“profetisas” (Êxodo 15:20; 2 Reis 22:14f. Também há um caso em que “uma sábia mulher de Abel” profetiza. 2 Samuel 20:14-22).
[ 372 ] Encyclopaedia Judaica, vol. 8, pp. 583-92.
[ 373 ] Ver Meek, Hebrew Origins, pp. 217-27, para uma apresentação mais detalhada desse ponto de vista.
[ 374 ] Paul Koschaker, Rechtsvergleichende Studien zur Gesetzgebung Hammurapis, Königs von Babylon (Leipzig, 1917), pp. 150-84. Ver também Elizabeth Mary MacDonald, The Position of Women as Reflected in Semitic Codes of Law (Toronto, 1931), pp. 1-32; De Vaux, Ancient Israel, vol. I, pp. 19-23, 29.
[ 375 ] David Bakan, And They Took Themselves Wives: The Emergence of Patriarchy in Western Civilization (São Francisco, 1979), pp. 94-5.
[ 376 ] Speiser, Anchor Bible, pp. 250-51. Assume posição similar M. Greenberg,
“Another Look at Rachel’s Theft of the Teraphim”, Journal of Biblical Literature, vol.
81 (1962), pp. 239-48.
Savina J. Teubal, Sarah the Priestess: The First Matriarch of Genesis (Athens, Ohio, 1984), presume a existência de um conflito básico entre “matriarcas” (Sara, Rebeca, Raquel) e patriarcas que faz com que apenas a versão patriarcal seja
contada na Bíblia. Ela postula um esforço por parte dessas mulheres para defender as convenções morais de suas tribos, que eram matrilineares, contra a pressão dos patriarcas para instituir a patrilinearidade. Pensando desse modo, ela considera que a ação de Raquel se baseie em seu “direito” ao teraphim, pois ela é a filha mais nova e, em algumas sociedades matrilineares, a descendência é traçada por intermédio da filha mais nova. Sua interessante especulação me parece, aqui, estar baseada em parcas evidências que não acho persuasivas, principalmente porque ela tenta alçar as antepassadas bíblicas à poderosa posição de “matriarcas” tendo em vista evidências bastante contraditórias. Mesmo assim, sua atenção às diversas indicações de matrilinearidade e matrilocalidade no texto bíblico é importante e deve ser mais aprofundada por estudos nesse campo.
[ 377 ] Deve-se notar que, na versão de Deuteronômio do Decálogo, a ordem é inversa: o mandamento “Não cobiçarás a mulher do teu próximo” vem antes do mandamento contra a cobiça de outras coisas que pertençam ao próximo. Julius A. Bewer considera esse um desvio significativo do uso anterior e o interpreta como “uma elevação dela em relação à posição anterior de mera propriedade”.
Ver Julius A. Bewer, The Literature of Old Testament (Nova York, 1962), p. 34.
[ 378 ] De Vaux, Ancient Israel, vol. I, pp. 166-67. Ver também A. Malamat, “Mari and the Bible: Some Patterns of Tribal Organization and Institutions”, Journal of the American Oriental Society, vol. 82, nº 2 (1962), pp. 143-49, para uma discussão dos paralelos próximos entre as condições refletidas nos documentos de Mari e os descritos na Bíblia. Malamat mostra como essas condições econômicas e conceitos diferiam dos que prevaleciam em outras sociedades mesopotâmicas.
[ 379 ] Se a viúva tivesse permissão para se casar fora da família, como no caso da viúva na Babilônica, ela poderia levar consigo sua parte da herança de viúva.
[ 380 ] Louis M. Epstein, Marriage Laws in the Bible and the Talmud (Cambridge, Mass., 1942), pp. 7, 38-9.
[ 381 ] Minhas generalizações sobre o status das mulheres judias no período pré-
exílio são baseadas nas seguintes fontes: De Vaux, Ancient Israel, caps. 1-3; Louis Epstein, Sex Laws and Customs in Judaism (Nova York, 1948); Epstein, Marriage Laws; MacDonald, Semitic Codes of Law; Frymer-Kensky, “Patriarchal Family Relationships”, pp. 209-14; Phyl is Trible, “Depatriarchalizing in Biblical Interpretation”, Journal of the American Academy of Religion, vol. 41 (1973), pp.
31-4; e Trible, “Woman in the Old Testament”, The Interpreter’s Dictionary of the Bible, Supplementary Volume, org. K. R. Crim (Nashvil e, 1976), pp. 963-66.
[ 382 ] Discuto essas duas histórias mais detalhadamente adiante.
[ 383 ] Para essa interpretação, ver Sarna, Understanding Genesis, p. 150.
[ 384 ] Oskar Ziegner, Luther und die Erzvaeter: Auszuege aus Luther’s Auslegungen zum ersten Buch Moses mit einer theologischen Einleitung (Berlim, 1952), p. 90 (tradução de Gerda Lerner); John Calvin, Commentaries on the First Book of Moses Cal ed Genesis (tradução do rev. John King) (Grand Rapids, 1948), vol. I, pp. 499-500.
[ 385 ] Sarna, Understanding Genesis, p. 150.
[ 386 ] Speiser, Anchor Bible, p. 143.
[ 387 ] Bakan, And They Took Themselves Wives, pp. 97-101.
[ 388 ] Epstein, Sex Laws, p. 135.
[ 389 ] Trible, “Woman in the OT”, p. 965.
[ 390 ] Phyl is Bird, “Images of Women in the Old Testament”, em Rosemary Ruether (org.), Religion and Sexism (Nova York, 1974), pp. 41-88, citação, p. 71.
[ 391 ] John Otwel , And Sarah Laughed: The Status of Woman in the Old Testament (Filadélfia, 1977).
[ 392 ] Epstein, Sex Laws, pp. 78, 80-1.
[ 393 ] Ibid., pp. 86-87; De Vaux, Ancient Israel, vol. I, 48-50.
[ 394 ] Judith Ochshorn, The Female Experience and the Nature of the Divine (Bloomington, 1981), caps. 5 e 6. Ochshorn discute a questão da natureza definida pelo gênero de Deus em toda a sua complexidade e chama nossa atenção para a profunda ambivalência do texto bíblico com relação a essa questão.
[ 395 ] Meyers, “The Roots of Restriction...”, pp. 100-2. Ver também Ochshorn, Female Experience, pp. 196-97.
[ 396 ] Wil iam F. Albright, From the Stone Age to Christianity (Baltimore, 1940), p.
199; E. O. James, Myth and Ritual in the Ancient Near East (Londres, 1958), p.
63.
[ 397 ] Neste comentário muito respeitado de Gerhard von Rad, Genesis: A Commentary (Filadélfia, 1961; tradução da edição alemã, 1956), o autor comenta:
“Essa nomeação é, portanto, tanto um ato de copiar quanto um ato de ordenar, pelo qual o homem objetifica intelectualmente as criaturas para si. [...] A nomeação no Antigo Oriente era sobretudo um exercício de soberania, de
comando” (p. 81). Ver também Roland de Vaux, O.P., Ancient Israel: Its Life and Institutions (Nova York, 1961; edição em brochura, 2 vols., 1965), vol. I, pp. 43-46; Speiser, The Anchor Bible: Genesis (Garden City, 1966), pp. 126-27; Sarna, Understanding Genesis (Nova York, 1966), pp. 129-30; Alfred Jeremias, Handbuch der Altorientalischen Geisteskultur (Berlim, 1929), pp. 33-4.
[ 398 ] Phyl is Trible tenta interpretar a passagem “e ela será chamada mulher”
(Gênesis 2:23) não como a nomeação de Eva por Adão, e sim como o reconhecimento dele em relação à sexualidade e ao gênero, uma espécie de definição. Ao discutir a passagem contraditória e 3:20, que diz “o homem deu à sua mulher o nome de ‘Eva’”, que, como ela reconhece, é uma afirmação do controle dele sobre ela, Trible explica o trecho como a “corrupção de uma relação de reciprocidade e igualdade” por parte dele. Trible, “Depatriarchalizing in Biblical Interpretation”, Journal of the American Academy of Religion, vol. 41 (Março de 1973), p. 38 e citação na p. 41. Acho essa explicação duvidosa e forçada, embora aprecie o esforço de Trible em oferecer uma leitura alternativa à patriarcal.
[ 399 ] A interpretação moderna e geralmente aceita é que as duas versões foram escritas de modo independente e que ambas sejam oriundas de uma série de tradições muito mais antigas. Ver E. A. Speiser, Genesis, pp. 8-11; Nahum M.
Sarna, Understanding Genesis, pp. 1-16.
[ 400 ] Para a versão feminista mais recente desse argumento, ver Maryanne Cline Horowitz, “The Image of God in Man – Is Woman Included?”, Harvard Theological Review, vol. 72, nos 3-4 (Julho-Outubro de 1979), pp. 175-206.
[ 401 ] John Calvin, Commentaries on the First Book of Moses cal ed Genesis (tradução do rev. John King) (Grand Rapids, 1948), vol. I, p. 129.
[ 402 ] Ibid., pp. 132-33.
[ 403 ] Rachel Speght, A Mouzel for Melastomus, the Cynical Bayter and foule-mouthed Barker against Evah’s Sex (Londres, 1617).
[ 404 ] Sarah M. Grimké, Letters on the Equality of the Sexes and the Condition of Woman (Boston, 1838), p. 5.
[ 405 ] Phyl is Trible, “Depatriarchalizing”, pp. 31, 42.
[ 406 ] Ibid., pp. 36-7.
[ 407 ] Phyl is Bird, “Images of Women in the Old Testament”, em Rosemary Radford Ruether (org.), Religion and Sexism (Nova York, 1974), p. 72.
[ 408 ] R. David Freedman, “Woman, a Power Equal to Man: Translation of Woman as a ‘Fit Helpmate’ for Man Is Questioned”, Biblical Archaeologist, vol. 9, nº 1 (Janeiro-Fevereiro de 1983), pp. 56-8.
[ 409 ] Stephen Langdon, The Sumerian Epic of Paradise, the Flood and the Fal of Man, University of Pennsylvania, University Museum Publications of the Babylonian Section, vol. 10, nº 1 (Filadélfia, 1915), pp. 36-7. I. M. Kikawada traça um paralelo interessante entre o nome Eva, “mãe de todos os viventes”, e o atributo “senhora de todos os deuses” dado à Deusa-Criadora, Mami, no épico babilônico de Atrahasis. Ver I. M. Kikawada, “Two Notes on Eve”, Journal of Biblical Literature, vol. 19 (1972), p. 34.
[ 410 ] Maryanne Cline Horowitz, em concordância com a interpretação de Phyl is Trible, defende vigorosamente que o conceito “imagem de Deus no homem e na mulher” nos convida a “transcender as metáforas masculinas e femininas de Deus que são abundantes na Bíblia e a transcender nossos eus históricos e instituições sociais em reconhecimento do Santo”. Horowitz, “Image of God”, p. 175.
Concordo que o texto é ambíguo o bastante para “abrir” a possibilidade de uma interpretação menos “misógina”, mas creio que o peso esmagador dos símbolos relacionados ao gênero na Bíblia leve a interpretações patriarcais e, como indicado acima, são essas interpretações que têm prevalecido há mais de 2 mil anos.
[ 411 ] David Bakan, And They Took Themselves Wives: The Emergence of Patriarchy in Western Civilization (Nova York, 1979), pp. 27-8. Para uma explicação psicológica semelhante da necessidade masculina de dominância e autoridade simbólica, ver Mary O’Brien, The Politics of Reproduction (Boston, 1981).
[ 412 ] Bakan, And They Took Themselves Wives, p. 28.
[ 413 ] Von Rad, Genesis, pp. 113-16.
[ 414 ] Speiser, Anchor Bible, pp. 44-6.
[ 415 ] James, Myth and Ritual, pp. 154-74.
[ 416 ] Delbert R. Hil ers, Covenant: The History of a Biblical Idea (Baltimore, 1969), pp. 66, 74-80.
[ 417 ] Sarna, Understanding Genesis, pp. 122-24.
[ 418 ] Compare este com o nascimento partenogenético de Atena da cabeça de Zeus.
[ 419 ] Ver Thorkild Jacobsen, The Treasures of Darkness: A History of Mesopotamian Religion (New Haven, 1976), p. 46.
[ 420 ] Para uma discussão abrangente e muito esclarecedora sobre a aliança, ver Hil ers, Covenant, passim; para referência às três alianças distintas, ver principalmente cap. 5. Ver também G. Mendenhal , “Covenant Forms in Israelite Tradition”, Biblical Archaeologist, vol. 17 (1954), pp. 50-76.
[ 421 ] Sarna, Understanding Genesis, pp. 131-33; De Vaux, Ancient Israel, vol. I, pp. 46-8; Robert Graves e Raphael Patai, Hebrew Myths: The Book of Genesis (Nova York, 1983), p. 240; artigos “Circumcision” em Encyclopedia Judaica, vol. 5, p. 567, e The Interpreter’s Dictionary of the Bible (Nova York, 1962), vol. 1, pp.
629-31. Michael V. Fox, “The Sign of the Covenant: Circumcision in the Light of the Priestly ‘ôt’ Etiologies”, La Revue Biblique, vol. 81 (1974), pp. 557-96. Fox considera a circuncisão um sinal de reconhecimento, “cuja função é lembrar Deus de manter sua promessa de posteridade”. Nesse sentido, é um símbolo como o arco-íris na aliança com Noé.
[ 422 ] Calvin, Commentaries, p. 453.
[ 423 ] Essa interpretação é embasada no artigo sobre circuncisão encontrado em The Interpreter’s Bible, p. 630.
[ 424 ] H. e H. A. Frankfort, “Myth and Reality”, em Henri Frankfort, John A.
Wilson, Thorkild Jacobsen, Wil iam A. Irwin, The Intel ectual Adventure of Ancient Man (Chicago, 1946), pp. 14-7.
[ 425 ] James B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton, 1950), p. 75, ambas as citações.
[ 426 ] Como mencionado em Langdon, The Sumerian Epic, pp. 44-6. Note o paralelo com a “nomeação” de Adão em Gênesis.
[ 427 ] Ibid.
[ 428 ] Anton Moortgat, Die Kunst des alten Mesopotamien: Sumer und Akkad (Colônia, 1982), Stele of Urnammu, vol. 1, pp. 117, 127, imagens 196, 203; os murais de Mari estão em pp. 121-22.
[ 429 ] John Gray, Near Eastern Mythology (Londres, 1969), pp. 62-3.
O assunto também é abordado em G. Widengren, The King and the Tree of Life in Ancient Near Eastern Religion, Uppsala Universities Arsskift, nº 4 (Uppsala, 1951), e em Ilse Seibert, “Hirt-Herde-König”, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Schriften der Sektion für Altertumswissenschaft, nº 53
(Berlim, 1969).
[ 430 ] André Lemaire, “Who or What Was Yahweh’s Asherah?”, Biblical Archaeology Review, vol. 10, nº 6 (Novembro-Dezembro de 1984), pp. 42-51.
[ 431 ] Existe uma vasta literatura de interpretação desse texto, que não se pode esperar seja fornecida aqui. Duas opiniões diferentes sobre o assunto das duas –
ou de uma – árvores são apresentadas em Speiser, Anchor Bible, p. 20, que sugere que o texto original falava apenas da Árvore do Conhecimento. Ele também chama a atenção para as passagens de Gilgamesh e a história de Adapa que discutimos. Sua análise corrobora a minha sobre as conotações sexuais do
“conhecimento do bem e do mal”.
Sarna, Understanding Genesis, pp. 26-8, enfatiza a significância do que ele considera uma mudança deliberada da Árvore da Vida para a Árvore do Conhecimento. Ele vê nessa mudança uma dissociação deliberada da Bíblia em relação à preocupação com a busca por imortalidade na literatura mesopotâmica, considerando que o significado na Bíblia: “Não é a magia […] e sim a ação humana a chave para uma vida com propósito”.
Arthur Ungnad discute os paralelos entre as duas árvores no paraíso com as árvores nos portões do palácio do deus do paraíso na mitologia mesopotâmica: uma, a Árvore da Vida; a outra, a Árvore da Verdade ou do Conhecimento.
Ungnad explica a ambiguidade da passagem bíblica, indicando que a estrada que leva à Árvore do Conhecimento passa pela Árvore da Vida. Quando os seres humanos começam a pensar e raciocinar sobre a vida e Deus, podem se apropriar em seguida do segredo da imortalidade, que é reservado a Ele. É para impedir que isso acontecesse que Adão e Eva foram expulsos do Paraíso. Ver: Arthur Ungnad, “Die Paradisbäume”, Zeitung der deutschen morgenlaendischen Gesel schaft, LXXIX, Neue Folge, vol. 4, pp. 111-18.
[ 432 ] Erich Fromm, The Heart of Man: Its Genius for Good and Evil (Nova York, 1964), pp. 116-17.
[ 433 ] Ernst Becker, The Denial of Death (Nova York, 1973), p. 26.
[ 434 ] Fromm, Heart, p. 32.
[ 435 ] Para uma análise feminista do problema, ver Evelyn Fox Kel er, Reflections on Gender and Science (New Haven, 1985).
[ 436 ] Cf.: A. W. Gomme, “The Position of Women in Athens in the Fifth and Fourth Centuries”, Classical Philology, vol. 20, nº 1 (Janeiro de 1925), pp. 1-25; Donald Richter, “The Position of Women in Classical Athens”, Classical Journal, vol. 67, nº 1 (Outubro-Novembro de 1971), pp. 1-8. Minhas próprias generalizações são baseadas em Sarah B. Pomeroy, Goddesses, Whores, Wives, and Slaves (Nova York, 1975), cap. 4; Marylin B. Arthur, “Origins of the Western
Attitude Toward Women”, em John Peradotto e J. P. Sul ivan (orgs.), Women in the Ancient World: The Arethusa Papers (Albany, 1984), pp. 31-7; Helene P. Foley,
“The Conception of Women in Athenian Drama”, em Helene P. Foley (org.), Reflections of Women in Antiquity (Nova York, 1981), pp. 127-32; S. C.
Humphreys, The Family, Women and Death: Comparative Studies (Londres, 1983), pp. 1-78; Victor Ehrenberg, From Solon to Sokrates: Greek History and Civilization During the Sixth and Fifth Centuries B.C. (Londres, 1973); Victor Ehrenberg, The People of Aristophanes: A Sociology of Old Attic Comedy (Oxford, 1951), pp. 192-218; Ivo Bruns, Frauenemanzipation in Athen, ein Beitrag zur attischen Kulturgeschichte des fünften und vierten Jahrhunderts (Kiliae, 1900).
[ 437 ] Wil iam H. McNeil , The Rise of the West: A History of the Human Community (Chicago, 1963), edição da Mentor Books, as duas citações, p. 221.
[ 438 ] Minhas generalizações sobre a sociedade espartana são baseadas em McNeil , The Rise of the West, p. 220; Pomeroy, Goddesses, pp. 36-40, e Raphael Sealey, A History of the Greek City States: 700-338 B.C. (Berkeley, 1976).
[ 439 ] Para uma interpretação um tanto diferente do trabalho de Hesíodo e seu significado para as mulheres, ver Arthur, “Origins”, pp. 23-5. Para os mitos da criação, ver Robert Graves, The Greek Myths, vol. I (Nova York, 1959), pp. 37-47.
[ 440 ] Cf.: Kate Mil et, Sexual Politics (Garden City, 1969), pp. 111-15; Erich Fromm, “The Theory of Mother Right and Its Relevance for Social Psychology”, em Erich Fromm, The Crisis of Psychoanalysis (Greenwich, 1970); reimpressão da edição em capa dura, p. 115. Agradeço pela sugestão da passagem de Ésquilo em uma palestra de Marylin Arthur, “Greece and Rome: The Origins of the Western Attitude Toward Woman”, 1971. Essa palestra posteriormente deu origem ao artigo citado acima na nota 5, mas as passagens relevantes não foram incluídas no artigo.
[ 441 ] The Works of Aristotle, tradução de J. A. Smith e W. D. Ross (Oxford, 1912), De Generatione Animalium, II, 1 (732a, 8-10). Doravante chamado de G.A.
[ 442 ] G.A., I, 20 (728b, 26-27).
[ 443 ] G.A., I, 20 (729a, 28-34).
[ 444 ] G.A., II, 5 (741a, 13-16).
[ 445 ] G.A., I, 21 (729b,12-21).
[ 446 ] Maryanne Cline Horowitz, “Aristotle and Woman”, Journal of the History of Biology, vol. 9, nº 2 (Outono de 1976), p. 197.
[ 447 ] G.A., . IV, 3 (767b, 7-9).
[ 448 ] G.A., II, 3 (737a, 26-31).
[ 449 ] Para uma discussão detalhada desse assunto, ver Horowitz, “Aristotle and Woman”, passim.
[ 450 ] Aristóteles, Politica (tradução de Benjamin Jowett). Em W. D. Ross (org.), The Works of Aristotle (Oxford, 1921). Doravante chamado de Pol. , I, 2, 1252a, 32-34.
[ 451 ] Ibid., 12531, 1-2.
[ 452 ] Ibid., 1253a, 39-40.
[ 453 ] Ibid., 1253, 5-7.
[ 454 ] Ibid., 1254b, 4-6, 12-16.
[ 455 ] Ibid., 1254b, 24-26; 1255a, 2-5.
[ 456 ] Ibid., 1260a, 11-13, 24-25.
[ 457 ] Ibid., 1255b, 4-5.
[ 458 ] Ibid., 1254b, 25; 21-23. Vale notar (1260a) que Aristóteles confere às mulheres, diferentemente de aos escravos, “faculdade deliberativa”, mas afirma que isso não tem utilidade.
[ 459 ] Platão, The Republic (tradução de B. Jowett) (Nova York: Random House, s.d., edição em brochura), V, 454.
[ 460 ] Ibid. , 466.
[ 461 ] Essa discusão superficial de modo algum faz justiça às complexidades e possibilidades do trabalho de Platão em gerar reflexão sobre a emancipação das mulheres. O assunto merece ser explorado com mais profundidade por especialistas. Baseei minhas generalizações em Alban D. Winspear, The Genesis of Plato’s Thought (Nova York, 1940), principalmente nos caps. 10 e 11; Paul Shorey, What Plato Said (Chicago, 1933); A. E. Taylor, Plato: The Man and His Work (Londres, 1955); Dorothea Wender, “Plato: Misogynist, Phaedophile, and Feminist”, em Peradotto e Sul ivan, Arethusa Papers, pp. 213-28.
[ 462 ] Simone de Beauvoir, The Second Sex (Nova York, 1953), introdução, p.
xxi , ambas as citações. De Beauvoir baseou essa generalização errônea nos estudos históricos androcêntricos que estavam a seu dispor no momento em que escrevia seu livro, mas até agora isso não foi corrigido.
[ 463 ] Sandra M. Gilbert e Susan Gubar, The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth Century Literary Imagination (New Haven, 1984).
[ 464 ] Eu uso a forma de escrever do século XIX para o movimento de direitos da mulher e a forma de escrever do século XX para o atual movimento de emancipação das mulheres.
[ 465 ] Eugene Genovese, Rol , Jordan, Rol : The World the Slaves Made (Nova York, 1974), p. 149. Perceba como, nessa citação, Genovese inclui mulheres no termo “homens” e, assim, as perde. Homens escravos não podiam se tornar homens políticos, pois eram escravos; mulheres escravas não podiam se tornar pessoas políticas, porque eram mulheres e escravas. Genovese, que tem consciência do papel das mulheres na história e apoia a História das Mulheres, caiu aqui em uma armadilha do machismo estruturada na linguagem.
Barcella, Laura
9788531614538
368 páginas
''Estamos vivendo novos tempos: a discussão sobre os direitos das mulheres não se concentra mais em grupos específicos e a luta feminista amplia seu debate na sociedade. Da violência contra a mulher à cultura do estupro, uma série de questões é tema de conversas frequentes na mídia e nas redes sociais. Mas como chegamos até aqui? Quem nos ajudou nessa trajetória? Lute como uma Garota reúne o perfil de figuras importantes da militância feminista, abrangendo das pioneiras do século XVIII às estrelas pop dos dias de hoje, como Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Oprah Winfrey e Madonna, além de nomes essenciais da luta no Brasil, apresentando um pouco de nossa história. Com prefácio de Mary Del Priore, apresentação de Nana Queiroz e todo ilustrado, Lute como uma Garota mostra a força das mulheres.''
Ph.D., Susan David
9788531614552
296 páginas
O caminho em direção à realização pessoal e profissional nunca é uma linha reta. Mas o que separa aqueles que vencem os desafios daqueles que fracassam? Para a renomada psicóloga e professora da Escola de Medicina de Harvard, Susan David, a resposta é uma: Agilidade Emocional. Depois de estudar por mais de 20 anos as emoções e autorealização, Susan descobriu que, por mais
inteligentes ou criativas que as pessoas sejam, é a maneira como lidam com seu mundo que determina o quanto serão felizes e bem-sucedidas em todas as áreas da vida. Primeiro lugar na lista dos mais vendidos do The Wall Street Journal, Agilidade Emocional apresenta, com sagacidade e empatia, uma abordagem
revolucionária para lidar com as reviravoltas da vida para atingir seus objetivos mais importantes com sucesso.
Os homens explicam tudo para mim
Solnit, Rebecca
9788531614231
208 páginas
Em seu ensaio icônico "Os Homens Explicam Tudo para Mim", Rebecca Solnit foca seu olhar inquisitivo no tema dos direitos da mulher começando por nos contar um episódio cômico: um homem passou uma festa inteira falando de um livro que "ela deveria ler", sem lhe dar chance de dizer que, na verdade, ela era a autora. A partir dessa situação, Rebecca vai debater o termo mansplaining, o fenômeno machista de homens assumirem que, independentemente do assunto, eles possuem mais conhecimento sobre o tema do que as mulheres, insistindo na explicação, quando muitas vezes a mulher tem mais domínio do que o próprio homem. Por meio dos seus melhores textos feministas, ensaios irônicos, indignados, poéticos e irrequie-tos, Solnit fala sobre as diferentes manifestações de violência contra a mulher, que vão desde silenciamento à agressão física, violência e morte. Os Homens Explicam Tudo para Mim é uma exploração corajosa e incisiva de problemas que uma cultura patriarcal não reconhece, necessariamente, como
problemas. Com graça e energia, e numa prosa belíssima e
provocativa, Rebecca Solnit demonstra que é tanto uma figura
fundamental do movimento feminista atual como uma pensadora radical e generosa.
O Poder do Pensamento Positivo
Peale, Norman Vincent
9788531610707
264 páginas
Neste livro, que é o precursor de O Segredo, o autor Norman Vincent Peale ensina um sistema de vida baseado numa técnica espiritual simples e clara, que pode ser resumida numa única frase: todos poderão levar uma vida feliz e gratificante. Se você, diz Peale,
"ler este livro com profunda atenção, observando cuidadosamente os seus ensinamentos, e se praticar, sincera e persistentemente, os princípios e fórmulas nele expostos, irá experimentar uma
extraordinária modificação em si mesmo. Suas relações com as outras pessoas serão melhores e você terá uma nova e agradável sensação de bem-estar."
Rezar
Braden, Gregg
9788531614248
162 páginas
Poderiam os nossos sofrimentos mais profundos revelar a chave para uma forma de oração que se perdeu há 17 séculos? O que podemos aprender hoje do grande segredo das nossas mais
veneráveis tradições? "Existem belas e impetuosas forças dentro de nós." Com essas palavras, o místico São Francisco de Assis descreveu o que antigas tradições consideravam a força mais poderosa do Universo – o poder da oração. Durante mais de 20
anos, Gregg Braden esteve procurando evidências de uma forma esquecida de oração, que se perdeu no ocidente depois das edições bíblicas realizadas nos primeiros séculos da Igreja Cristã. Na década de 1990, ele encontrou e documentou essa forma de
oração, ainda sendo usada em mosteiros remotos do Tibete central.
Descobriu-a também sendo praticada em ritos sagrados nos
desertos do sudoeste da América do Norte. Neste livro, Braden descreve essa antiga forma de oração feita sem palavras ou expressões externas. E, pela primeira vez em forma impressa, ele nos conduz numa jornada que tem por objetivo descobrir o que as nossas experiências mais íntimas nos dizem sobre as nossas
crenças mais profundas. Com histórias ilustrativas e depoimentos pessoais, Braden revela a sabedoria desses segredos atemporais e o poder que está à espera de cada um de nós...